sábado, 2 de abril de 2011
Telecineclubismo, nacional-popular, amor e revolução
O texto que se segue é uma contribuição a um debate surgido na lista dos cineclubes brasileiros - cncdialogo@yahoogrupos.com.br - a respeito da novela Amor e Revolução, que estréia em abril tendo como pano de fundo a resistência à ditadura militar no Brasil. Na oportunidade, mencionei telecineclubismo, tema que retomo aqui também.
Telecineclubismo
Não sei se telecineclubismo é o melhor nome (dá para fazer uma discussão academicossemântica, mas fica para outro dia), mas estava me referindo à prática da crítica coletiva à produção ou programação da televisão: cineclube de televisão. Quando dizemos que os cineclubes são as (únicas) entidades representantes do público do audiovisual estamos, naturalmente, sendo um pouco condescendentes conosco mesmos, não é? Porque os cineclubes, em seu estágio atual, se instalam numa área relativamente pequena da sociedade e eventualmente representam um segmento muito diminuto do “público do audiovisual”. A maior parte desse público, é indiscutível, está na frente da televisão e, no Brasil, praticamente se confunde com a totalidade da população. É um público sem organização ou representatividade institucional na vida pública. Desde o iníçio da superação (com o rádio, nos anos 20, mas sobretudo com a televisão – anos 50 - e, agora mais do que nunca, com a internet) do “cinema” como principal meio de expressão, comunicação e formação audiovisual, a vocação do cineclubismo é de servir de modelo de organização e chegar a constituir-se como instrumento (e instituição) de representação desse público. Todo o público. É o que expressa a Carta de Tabor dos Direitos do Público.
Estou quase certo de que devem existir experiências de apropriação crítica da televisão neste imenso Brasil. De qualquer forma, é certo que os redatores originais da Carta de Tabor, Filippo de Sanctis (Il publico comme autore : l’analisi del film nelle discussioni di gruppo. 1970.Florença : La Nuova Italia) e Fabio Masala (Il Diritto alla risposta. Educazione degli adulti e mezzi audiovisivi di communicazione di massa. 1985. Cagliari : CUEC Editrice), trabalharam intensamente com a televisão na organização de cineclubes a partir de experiências de alfabetização de adultos. Nós também, nos anos 70, participamos de cineclubes que eram grupos de discussão de novelas em bairros da então periferia Sul de São Paulo, justamente no quadro de resitência à ditadura (seria curioso mostrar essa experiência nessa novela agora...).
As novelas, presentes no espaço de disputa ideológica do cotidiano, do imaginário da maioria da população, constituem um dos seus principais meios de integração social e cultural. São a forma de expressão audiovisual mais familiar, tanto no sentido de estarem presentes no cotidiano, como no de serem conhecidas – e apreciadas – por essa ampla maioria.
No Brasil, caso muito incomum no panorama mundial, foi através das novelas que a produção nacional se tornou dominante (quase 90% do tempo, na televisão aberta) no horário nobre – ao contrário da grande maioria dos países, onde esse período é dominado pelas séries, reality shows e outros programas de Hollywood ou por medíocres variedades “de auditório”. Essa familiaridade a que me referi é um elemento fundamental não apenas de proximidade e interesse em relação às novelas, suas tramas e temas, mas também de conhecimento e capacidade de crítica por parte desse público. Evidentemente, a estética, linguagem, narrativa da novela são descendentes e influenciadas pela literatura e pelo cinema – e vices-versas, indefinidamente. O cotejo é, portanto, mais um elemento de enriquecimento da própria noção de reflexão e ação crítica sobre o cinema – e vice-versa – em sua relação com o público, que é a essência do cineclubismo.
Nacional-popular e novela
Este conceito de Antonio Gramsci ajuda muito a compreender a dialética da luta popular (do público) contra sua dominação por uma minoria no plano do imaginário, das ideologias, do que, enfim, os marxistas chamamos de superestrutura. Para Gramsci, o nacional-popular é fundamentalmente uma ferramenta política. Define o processo de construção de uma hegemonia (ver Hegemonia e Cineclube, em postagens mais antigas, neste blog) sobre a base da experiência, criatividade e expressão, bem como interesses concretos e ideologia das camadas subalternas da sociedade. O conceito contém e implica na tensão dialética entre a idéia de “popular” – que, isoladamente se identifica ao limitado, estreito, popularesco, por oposição a sábio ou erudito – e de “nacional”, para definir a capacidade de ampliar e unificar, ao nível da nação, (do coletivo social) um consenso de valores, costumes, gostos. O termo nacional, isoladamente, exprime (na atual conjuntura) sobretudo a dominação da burguesia, classe social que define o capitalismo. Traduz a capacidade e o virtual monopólio da distribuição e circulação da cultura – dos bens culturais – e a supremacia ideológica que oculta seu verdadeiro conteúdo de classe. O nacional-popular é, portanto, o movimento capaz de criar o dinamismo necessário para reconhecer a mentalidade e as expectativas do povo, das classes sociais subordinadas, do público, resignificando-as e elevando-as ao nível da universalidade, isto é, de hegemonia na sociedade: dinâmica “que atua sobre um povo disperso e pulverizado, para despertar e organizar sua vontade coletiva” (Cadernos do Cárcere, vol 3, §1, p.14. 2000. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira).
Mas essa mesma tensão está presente em cada obra – e fica mais evidente na produção televisiva que se define e se alimenta de informações em tempo quase real de reação do público (ver item 10 da Carta de Tabor): IBOPE e outros. O capital (a burguesia) não cria e não produz cultura: adquire-a dos criadores, dos trabalhadores, controlando e orientando sua distribuição, sua transformação de produção individual e privada em consumo nacional. Cada obra traz em si essa contradição, expressando a visão privada da sua criação (que é expressão de sua imersão e identificação maior ou menor com o público) e sua sujeição às determinações e interesses do capital que se apropria dessa criação. Por isso o “sistema” distribui produtos progressistas e eventualmente até mesmo revolucionários, neutralizando-os parcial ou totalmente no processo de mercantilização.
O autor expressa e o público responde de formas variadas à apresentação dessa tensão. Isso que muitos companheiros chamam (equivocadamente, a meu ver) de “alfabetização do olhar” e expressões similares, procura traduzir o papel essencial do cineclubismo de localizar e tornar conscientes essas contradições. O que não é um processo didático, mas de troca de experiências, uma práxis coletiva de autoformação (com perdão pela redundância).
No Brasil, a música e o audiovisual (fundamentalmente na TV e através das novelas) criaram um caso muito particular no panorama mundial. Como o cinema na Índia. Estabeleceram uma predominância da produção nacional no mercado, contra a força econômica, técnica, etc., em princípio muito superiores, da indústria norte-americana. É, sem dúvida, um passo inconclusivo (do ponto de vista do público), já que esse “domínio” é apropriado pelos valores de uma burguesia que é, por sua vez, associada e subordinada ao capital internacional. Mas que tem, ou pelo menos anda ensaiando, suas próprias contradições, sua autonomia mesmo nesse plano econômico internacional (G20, Conselho de Segurança da ONU, etc.).
Muitos cineclubistas defendem altaneiramente um “cinema brasileiro” sem maiores contradições. E, como o acerto de certos segmentos do cinema (e do Estado) brasileiro com o capital holywoodiano tem demonstrado, isso não parece apontar para a melhoria da situação do nosso público. Por outro lado, indica uma espécie de senso comum que reconhece que temáticas, estilos, atores, o idioma, entre outros aspectos, favorecem a representação da realidade nacional de forma mais rica, mais completa. Mais reveladora, virtualmente, das muitas contradições que paradoxalmente esconde. “O pior filme brasileiro nos diz mais que o melhor filme estrangeiro”, provocava Paulo Emílio em tempos de tomada de consciência mais primária dessa questão.
E Paulo Emílio não estava sozinho, naturalmente. Além dos cineclubes que desde logo se alinharam com ele na época, vários nomes da música, do teatro e do cinema, reconhecendo essa problemática gramsciana – e, (apenas) em parte, devido à impossibilidade de uma atividade realmente livre, durante a ditadura – passaram da atividade política, educativa de massa, para o terreno das indústrias culturais e, particularmente, do cinema e da televisão. Vianinha, Paulo Pontes, Fernando Peixoto, Chico Buarque, Dias Gomes (cuja neta colabora no roteiro de Amor e Revolução), Guarnieri, Capovilla, João Batista de Andrade, Tizuka Yamazaki (certamente esquecendo vários outros nomes), tiveram suas ricas experiências e embates com o cinema e sobretudo com a televisão, no auge da ditadura. Da Rádio Tabajara, na Paraíba, a A Grande Família (Globo), até Kananga do Japão (TV Manchete), passando pelas novelas e pelo jornalismo, essa(s) trajetória(s) abrem um rico veio de estudo e reflexão para os cineclubistas que se reconhecem nessa busca de construção do nacional-popular.
Por isso me parece um pouco extrema a recusa (pre)liminar de alguns comnpanheiros com relação a Amor e Revolução, antes ainda de sua estréia.
Amor e Revolução
A grande maioria dos participantes desta lista nasceu ou atingiu maior entendimento depois dos acontecimentos que serão representados nessa novela. A mesma proporção, mais ou menos, deve se reproduzir entre o público que vai assisti-la. Um público que se estima em 5% da audiência - se reproduzir os índices mais recentes do SBT -; algo como 300 mil aparelhos diários na cidade de São Paulo (depois que saí da Globo, nunca mais encontrei referência que mostre os índices nacionais, só por “praça”). Em termos de público dá mais de um Tropa de Elite 2, por mês, apenas na cidade paulista. E a novela pretende durar, pelo menos, 6 meses ou 180 capítulos.
Durante esse tempo, a história do Brasil naquele outro tempo estará sendo não apenas lembrada e reproduzida, independentemente da orientação dessa lembrança, mas intensamente discutida - especialmente por causa da repercussão especial do tema, que diz respeito a tanta gente e mobiliza interesses e pontos de vista sobre assuntos não resolvidos da nossa História - nos meios de comunicação e nos lares desses milhões de espectadores. Pode-se dizer que praticamente todos os brasileiros com menos de 40 anos, mais ou menos, que pouco sabem desse momento brasileiro, serão expostos a alguma forma de reflexão sobre o assunto. Começando, talvez, pela nossa presidenta, que certamente todos tentarão “encontrar”, identificar na trama.
Confesso que não vi os mesmos traços que o Frank Ferreira nos 10 minutos de trailer que estão disponíveis na Internet. É claro que não espero nenhuma obra em profundidade ou crítica que pudesse ser acrescentada a alguma lista de festival sério, nem me lembro – acompanhando a manifestação do Giovanni Rodrigues – de alguma novela notável pela qualidade de seus diálogos. Aliás, o próprio autor adianta que se trata de uma história de amor com os ingredientes “indispensáveis” desse tipo de produção. No caso, o amor impossível, em vez de ser entre classes sociais, é entre papéis políticos – o que por si já dá pra pensar... Não seria um pouco a mesma coisa?
Mas eu não vi no trailer “militares garbosos”, e sim bandidos e torturadores de uniforme. O “garbo”, como tão bem representaram Pinochet, Idi Amin ou Gadafi, pode ser a embalagem do mais exuberante ridículo. A simplificação – que será extrema, tenho certeza – está mais na “pureza” aparente dos ideais dos jovens chamados de revolucionários, e não de terroristas. É verdade que o Aranha, versão aracnídea do delegado Fleury, apesar de também parecer um tipo escabroso, tem no ator uma figura que decididamente não faz justiça à monstruosidade, inclusive visual, do famoso torturador. Mas lhe atribui a valente frase do general Figueiredo: “prendo e arrebento” – talvez identificando a tortura como base “administrativa” indispensável para o regime.
Outro arquétipo que se poderia identificar é o do ator Claudio Cavalcanti, que me lembrou, nesses poucos minutos, ou os comunistas mais velhos que aderiram à guerrilha (como Carlos Marighela e vários outros) ou os que não aderiram, mas por seu compromisso – e perigo para o sistema – foram igualmente perseguidos e torturados, dentre os quais o mais notável seria Gregório Bezerra. Reflexão irônica mas não menos interessante, é pensar que o ator foi vereador e deputado do PFL-DEM e é vegetariano e grande paladino dos animais.
Estão ali o pau-de-arara, a maquininha de choque, os “telefones” e afogamentos – que não chegam a reproduzir a realidade do porão do DOPS ou do quartel da OBAN, depois “institucionalizada” como DOI-CODI. Mas um tal realismo levaria a novela para o horário da madrugada. Ou quem sabe o autor, cuja imaginação já produziu a hilária Mutantes (eu me diverti muito com ela), na TV Record, poderia trazer para a televisão brasileira a estética escatológica das séries CSI (cujos diálogos, vou te contar...)? Tem o CCC, evocando também o envolvimento “civil” nesse embate que da televisão, concordo, se esperaria tratar com maniqueísmo. Vi também um médico na sessão de tortura, ajudando a controlar os entusiasmos dos torturadores. Será que vão mostrar os professores de tortura, da Escola das Américas? Um Dan Mitrione (retratado em Estado de Sítio, de Costa Gavras) ou outro assessor enviado pelo governo estadunidense? Tem a UNE e um grupo de teatro – será o CPC, de onde vieram tantos dos nomes que citei mais acima? E as músicas, já pensaram? O prefixo é Alegria, Alegria, do Caetano, mas tem Chico Buarque, Vandré e mais 180 capítulos de sentimentos, revoltas, lamentos, metáforas... A novela é uma sopa de símbolos, índices e ícones que reconstituem uma memória, certamente parcial e controlada, mas que também se expõe – e a propaganda diz que só o SBT tem essa coragem, portanto consciência – ao debate na mídia e ao crivo crítico do público.
Cada capítulo terá um depoimento de 3 minutos de alguém da época. Segundo releases da emissora, já têm 70 depoimentos – começou com o Zé Dirceu – todos do campo da esquerda, embora “estejam abertos a todo mundo”. Da direita, informa a imprensa, só houve reclamações até agora. Dizem que a turma do “brilhante” Ulstra está tiririca, se me permitem a expressão.
Eu acredito que, mesmo que simplista, incompleta, subordinada às necessidades dos anunciantes e outros poderosos, Amor e Revolução, como a própria imagem institucional que hoje temos da que foi chamada de “Revolução de 64”, deverá obedecer ao estágio em que vivemos dessa luta ideológica a que me referi no início deste texto. A visão que hoje predomina, que está passando para a História, não é simplesmente “o ponto de vista dos vencedores”. É mais complexo que isto, já que o povo certamente não é vencedor no Brasil, mas penetra, fragiliza, ocupa partes importantes do edifício hegemônico dos poderosos. O brasão militar na logomarca da novela é outro sinal desse processo: nos tempos da ditadura o uso indevido de símbolos oficiais dava cadeia.
A novela, eu quis sugerir, é uma ótima oportunidade para exercitar os músculos da crítica do público. Talvez uma oportunidade para expandir o próprio cineclubismo brasileiro, a partir de nossos próprios recursos. Sem aceitar ou reproduzir o papel de “espectadores” passivos, e sem repudiar a realidade de forma liminar, refugiando-se, talvez, num purismo elitista, distante desse público que, afinal, somos nós. Parafraseando Paulo Emílio, ao rejeitarmos uma mediocridade com a qual temos vínculos profundos, em favor de uma qualidade importada (estética?), com a qual tem pouco o que ver, esse público exala uma passividade que é a própria negação da independência a que aspira (Cinema: Trajetória no Subdesenvolvimento. 1996. São Paulo: Paz & Terra).
Imagino organizar a visão coletiva da novela em tela grande, em certas comunidades. Ou debatê-la semanalmente, acompanhando algum ou mais de um curso na escola numa ação integrada com o cineclube – talvez possível em Vila Velha? Ou, quem sabe, um cineclube universitário que “inventasse” um trabalho, uma dissertação ou tese elaborada numa prática coletiva sistemática?
Montreal, abril 2, 2011
Assinar:
Postagens (Atom)

















































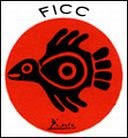
.bmp)


