 |
| Ushers (lanterninhas) em formação Com uniforme e em formação "militar", responsáveis pela ordem no cinema E uma enfermeira, se precisar... |
reflexões meio pessoais sobre cineclubismo e organização do público do audiovisual

















































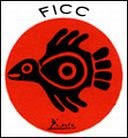
.bmp)
O terceiro turno e os cineclubes
O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro
O título do filme icônico de Glauber Rocha serviria
bem para enquadrar a situação que vivemos neste segundo turno das eleições
presidenciais no Brasil. Estamos diante de uma perspectiva de horror,
representada pela possibilidade de reeleição do criminoso psicopata Bolsonaro:
o Dragão da Maldade. Isso nos levaria a uma destruição tão grande das chamadas
instituições republicanas e das estruturas administrativas ligadas à educação,
à ciência, à cultura, ao meio ambiente e à segurança dos setores
eufemisticamente denominados de vulneráveis, que ou implantaria de forma mais
estável um já esboçado regime fascista à moda contemporânea ou, mesmo que essa
fase fosse depois superada, ainda deixaria um monte de escombros sobre o já
arrasado solo social brasileiro: uma
condição de atraso e dependência que levaria gerações para ultrapassar, ou pior,
que poderia até se tornar nosso modo permanente de existir. No lado oposto
temos um herói popular: Lula, o Santo Guerreiro que, independentemente de
qualquer crítica que possa lhe ser feita, representa a única possibilidade de
determos esse processo destrutivo já iniciado e de retomarmos uma trajetória de
reconstrução institucional e social. Estamos diante de uma encruzilhada de
alcance histórico inigualável.
No entanto, por mais vital, como de fato é essa
decisão, seu resultado não altera – na melhor das hipóteses atenua - uma
condição essencial do Brasil: sua subalternidade em relação ao capital internacional
e a exploração sistemática, estrutural e histórica, assim como a exclusão da
grande maioria da sua população dos mínimos benefícios permitidos pela evolução
das condições de vida em nossos tempos. Só uma verdadeira revolução – política,
social e econômica - mudará a essência dessas condições. Por isso, este texto
não tratará dessa escolha imediata, mas do que nos espera no momento seguinte
ao resultado das eleições. E daí para a frente.
A sobrevivência dos mais fracos
No Brasil, a conhecida cesta básica equivale – segundo
levantamento recente do DIEESE – a 60% do salário mínimo. Os aluguéis mais
baratos estão mais ou menos nessa mesma proporção, ou pior. Só essa soma, necessária,
mas insuficiente para a sobrevivência, já ultrapassa o mínimo. Ainda segundo o
instituto intersindical, uma família de 4 pessoas necessitaria de, pelo menos,
5,39 salários para viver. Ora, entre desempregados, trabalhadores informais e
todas as demais categorias, cerca de 70% da população brasileira ganham menos
que um salário mínimo. Uma parte considerável não consegue sequer comida
suficiente, metade da população não tem esgoto e um contingente muito
significativo não tem sequer acesso regular a água potável. Mais de 30 milhões
passam fome! É o tamanho da população do Peru, por exemplo.
Essa grande maioria cuida, basicamente, de sobreviver.
Numa sociedade moldada pelo passado recente de escravismo (cerca de 400 anos) e,
posteriormente, das ditaduras (mais quase 40 anos), ao todo resta-nos menos de
um século de “liberdades democráticas” temperadas de privilégios, preconceitos
e exclusão. As maiorias – mulheres e negros, por exemplo – e outros segmentos
de brasileiros, junto com aquelas, ainda têm sua situação definida, e piorada,
em função de características de gênero, de raça, ou segundo heranças e opções
culturais e comportamentais.
O Brasil – os dois terços da população que praticamente
definem o que é este país - vive na miséria. Segundo o dicionário: um estado de
carência absoluta de meios de subsistência. Miséria também é um estado de alma:
uma situação permanente de indigência, de penúria, acompanhado de enorme
sofrimento, infelicidade, desgraça. A luta pela sobrevivência em seus níveis
mais básicos não favorece o tirocínio ou o juízo moral: as opções éticas e a
compreensão da vida social tendem para as escolhas que permitam a alimentação,
o abrigo, a segurança. Ou, em muitos casos, apenas a ilusão desse abrigo e
segurança. Ainda mais: os que escapam desses limites também estão presos na
instabilidade de sua condição – as fronteiras de pobreza no Brasil oscilam
conforme os governos e os ciclos econômicos – e apresentam esse perfil
ideológico de medo da pobreza que, como bem definiu Paulo Freire, favorece uma
espécie de consciência necrófila, transformando a frágil superação da condição
de oprimido pela necessidade de, por sua vez, reproduzir a opressão. A base
social mais ampla da psicopatia bolsonarista se enquadra nessa explicação
freiriana.
Mas a grande maioria não está sequer nessas regiões
limítrofes, e sim nas situações mais graves de carência. A miséria, a luta
diária pela sobrevivência básica, também trazem uma dificuldade extrema de
formular um projeto próprio de emancipação, de poder compreender, ter
consciência de seu papel na sociedade complexa e na história. A luta pela
sobrevivência, com alguma frequência, vira competição; e esta facilita, empurra
ao crime.
Tanto para Freire como para Gramsci, a consciência de
classe é um processo em relação constante com práticas de luta social; elas é
que constroem a hegemonia de valores contrários à exploração do trabalho, de
emancipação e de solidariedade. A definição de uma nova ordem social e moral se
dá no próprio processo da sua construção. É na luta que aponta para, ou resulta
em novas formas de relação social e na construção de instituições, isto é, de
formas de organização, de valores morais, comportamentos e normas com que vão
se tecendo as bases e a estrutura uma nova sociedade, com novas formas de
convivência entre as pessoas, de administração e distribuição da produção, de
definição de valores e projetos para o futuro da humanidade.
A condição miserável de grande parte da população
brasileira, assim como sua herança histórica de exclusão e exploração extremas
não facilitam a tarefa de compreensão e construção de novas instituições, de
uma nova sociedade. É mais difícil pensar em deter a destruição do planeta
quando não se tem água para beber, ser solidário quando se buscam restos de
comida (e, no entanto, exemplos de solidariedade são tão comuns entre os que
pouco têm). Por isso podem florescer as crenças que situam a felicidade num mundo
imaginário, místico e sempre por vir, iminente mesmo. Mas que, na verdade, nunca
chega.
De fato, a crença religiosa – e o milenarismo que
acompanha as seitas de maior sucesso no País, nos últimos anos – é muitas vezes
uma forma de descrença, de desânimo, de abandono da esperança no real. Descrença
nas possibilidades de gerir sua própria emancipação no mundo real, remetendo-a
ao plano do divino. Algumas igrejas, constituídas como grandes corporações, e
mesmo como partidos políticos (próprios ou ocupados em alguma medida), oferecem
interpretações da esfera divina para as opções materiais, sempre conservadoras
no plano das relações sociais e reacionárias no campo da economia – o que é a antítese
das necessidades da população e mesmo dos princípios de fraternidade, paz e
justiça que constituem o discurso e as crenças não apenas do cristianismo,
majoritário no Brasil, mas de todas as religiões.
Nossa miséria também se reflete nas características da
classe dominante, dependente por sua vez do domínio e controle das classes
dominantes do “primeiro” mundo: aquele que vem antes, tem a primazia, detém a
hegemonia real. Nossa classe dominante também não tem perspectiva de futuro e
limita-se a posturas predatórias e oportunistas, violentas e cruéis, cujos
exemplos recheiam nossa história. O oportunismo estrutural das “elites”
brasileiras também é uma forma de descrença e de desânimo, mas marcadas pela adesão
confortável ao mais forte, ao governante, ao estabelecido.
As eleições, as ruas e o cotidiano do proletariado
A formação das classes subalternas criadas com o
capitalismo, nos países centrais inicialmente, foi marcada pela
superexploração, pela violência e por níveis de miséria e fome que não são nada
estranhos à experiência de seus equivalentes na população brasileira contemporânea.
O proletariado foi expulso do campo, concentrando-se nas áreas urbanas,
juntando-se a outros pobres como massa disponível para o trabalho fabril – que
caracteriza o capitalismo sobretudo do século 19 – e para a prestação de
serviços à burguesia e seus servidores mais aquinhoados. Reunidos em grandes
contingentes nas fábricas, convivendo e partilhando uma mesma condição – e
sendo, ao mesmo tempo, a base principal da formação do capital - o operariado
se tornou uma força política e formou a vanguarda política dos segmentos
populares. Durante mais de um século, foi essa vanguarda que conduziu as lutas
e as maiores conquistas das classes trabalhadoras, entre elas a grande
revolução que deu origem à União das Repúblicas Soviéticas.
Depois da 2a. Guerra Mundial outros segmentos também tiveram
um protagonismo mais decisivo: os camponeses na constituição da República
Popular da China, e muitos setores populacionais unidos em revoluções
anticoloniais e socialistas na África, principalmente, mas também na Ásia e na
América Latina.
Os últimos 50 anos, no entanto, estão marcados pela acumulação
de experiência pelo Capital no enfrentamento – e, em muitos casos,
neutralização - daquelas lutas; pelo desenvolvimento das forças e dos processos
produtivos, com o estabelecimento sempre crescente da hegemonia do capital
financeiro; pela expansão geográfica e vertical do sistema, com a derrocada do
sistema soviético e, mais recentemente, pela revolução digital, afetando não
apenas a produção, mas resultando na criação de sistemas planetários de
comunicação e transmissão de dados, valores e controles sociais.
As classes trabalhadoras não lograram progressos
significativos em sua emancipação neste último período. Ao contrário, houve um
recuo bastante generalizado nas principais instituições criadas – e nos
direitos conquistados - pelas lutas dos trabalhadores, especialmente em seus
partidos políticos, sindicatos e outras organizações e movimentos sociais. O
proletariado não deixou de lutar com as mesmas disposição e intensidade a que a
própria vida o obriga, mas encontra-se enfraquecido e desorientado. Muitas de
suas manifestações não têm coerência de propósitos (como o Occupy Wall Street,
por exemplo) e se esgotam sem objetivos concretos; outras não conseguem unidade
nos objetivos, como os Coletes Amarelos na França, e muitas já não mobilizam a
maior parte dos que seriam interessados. Na América Latina temos ondas que se
entrechocam, de avanços e recuos políticos que, no entanto, não estabeleceram
até agora mudanças mais duradouras.
O Brasil tem uma história própria, dependente, e
construída com relativamente menos protagonismo popular que o das nações mais
avançadas do sistema. Mesmo assim criou uma sociedade civil forte o bastante
para, no período referido, derrubar a ditadura. Grande e significativa vitória,
mas não o suficiente para construir uma democracia vigorosa ou estável. E mesmo
essa sociedade civil comparativamente frágil também experimentou o refluxo e o
enfraquecimento de suas instituições. O Partido dos Trabalhadores, que foi uma
espécie de cume da fase de avanço popular, não conseguiu apontar caminhos
realmente sólidos, indispondo-se logo de início com a Constituinte – o outro
ponto alto das lutas populares e democráticas –, e paulatinamente adaptando-se
às exigências e costumes da via político-institucional à moda brasileira, enfraquecendo
as bases populares organizadas e mesmo comprometendo seu próprio prestígio.
Seus governos, de conquistas significativas – de fato, os melhores de toda a
nossa história republicana -, ao mesmo tempo não ajudaram a organizar os
trabalhadores nem estabeleceram instituições sólidas sob o controle das
maiorias. Outros partidos, como o histórico Partido Comunista, se
desconjuntaram: uma parte substancial simplesmente aderiu, transformando-se em
complemento de partidos liberais ou ainda mais à direita, e uma pequena parte
busca uma recomposição partidária e ideológica coerente, mas sem conseguir
superar, ainda, a irrelevância política e social. O PCB de hoje divide esse
espaço de isolamento com outros partidos nanicos: PSTU, PCO, UP. A cisão dos
anos 60 do velho Partidão, o PCdoB, é mais importante que esses no campo
parlamentar, mas também é mais uma força auxiliar do PT do que uma agremiação
partidária com propostas claras, além das que se referem ao aparato político
institucional. O que Gramsci, em referência a Maquiavel, chamava de “príncipe
moderno”: o intelectual coletivo capaz de conduzir a construção e
estabelecimento de uma nova hegemonia, é no Brasil um conjunto de forças ainda
muito dispersas e que sequer conseguem estabelecer uma unidade operacional numa
eleição como a que estamos vivendo. Essa unidade, aliás, teria dado à classe
trabalhadora a vitória no primeiro turno das votações.
Essas chamadas esquerdas, contudo, constituem o
patrimônio e a expressão concretas da organização do proletariado brasileiro
real (constituído por uma grande maioria de desempregados e subempregados, além
dos trabalhadores mais “tradicionais”, se cabe a expressão). Elas ajudaram a
criar e a manter as perspectivas políticas dos trabalhadores limitadas
atualmente ao campo eleitoral e às “ruas”, isto é, passeatas e comícios. Isso
não deixa de ser um reflexo de uma crescente ausência das esquerdas nas
organizações e instituições populares. De fato, nestas eleições, a ausência da
apresentação de programas e, especialmente no segundo turno, a aceitação do
estilo fascista imposto pelo bolsonarismo, com intrigas e difamação, é mais um
indício claro da incapacidade de realmente organizar a participação popular no
processo político. No plano ideológico – e, exemplarmente, nas chamadas mídias
sociais – a vantagem da direita (que, note-se, costumamos designar no
singular...) ou, no mínimo, do seu estilo e de suas pautas, parece evidente.
Como votar com consciência política, social,
histórica, se essa discussão não é a principal da campanha eleitoral? E mais, se
mesmo essa questão, quando muito, só aparece na campanha eleitoral, a mais
curta da história recente? As ruas, por sua vez, foram crescente e nitidamente
melhor aproveitadas pelos setores reacionários. O carisma fascista do Führer,
do Duce ou do Mito; a apropriação muito bem sucedida dos grandes símbolos
nacionais (bandeira, suas cores, a própria Seleção de futebol), além do uso
escancarado das instituições e dos recursos públicos (em certos casos, até com
a anuência das esquerdas parlamentares) mostraram-se, em geral, mais eficazes –
ainda que traficadas - para mobilizar maiores e/ou mais visíveis manifestações
nas ruas, sem que a contestação das múltiplas ilegalidades do processo tenha
conseguido mostrar a mesma efetividade.
As instituições geradoras de valores, os aparelhos
de hegemonia, segundo Gramsci - dos partidos políticos aos sindicatos, das
associações de bairro e de movimentos sociais aos cineclubes -, foram em grande
parte abandonadas, ou desprovidas de muitas de suas práticas e atribuições pelas
esquerdas, pelas vanguardas políticas, sociais e culturais. O convívio nas organizações
proletárias e populares, a construção coletiva da identidade de classe (da qual
faz parte essencial a compreensão da importância das questões raciais, de
gênero e outras, como também da defesa do planeta) nas práticas e lutas do
cotidiano foi deixado sobretudo às igrejas mais conservadoras, que se dedicaram
a isso com afinco. E às mídias, que também intervêm profundamente na vida
diária de todos. É inclusive exemplar como essas duas coisas se somam:
proselitismo religioso e mídias audiovisuais.
Proletariado ou público
Ao mesmo tempo que o proletariado se expande, com o
assalariamento dos trabalhadores do campo ou com a proletarização de setores
médios, por exemplo, o papel central do segmento operário e fabril diminui comparativamente
em importância. No Brasil, com a desindustrialização; no mundo todo, com o
crescimento da automação e o aumento do setor de serviços.
Tal como o ambiente da fábrica, os espaços
comunitários – com exceção, claro, dos estabelecidos pelas igrejas,
especialmente as evangélicas – também perdem relevância, em boa medida para as
mídias, que substituem o convívio direto pela interação virtual e automatizada.
É unânime a consideração de que as mídias hoje constituem os principais
veículos de comunicação, de formação e de socialização, em seus espaços cada
vez mais “íntimos”, regulados por sistemas automáticos organizados para a
produção de informação para os donos dos meios de produção: o Capital, a classe
dominante. Embora existam iniciativas de resistência, elas são extremamente
minoritárias. A própria estrutura das plataformas em que estão
instalados esses espaços virtuais é concebida para se apropriar e, na maioria
dos casos, neutralizar ou cooptar essas iniciativas, especialmente as de maior
público, através de sua monetização.
O outro aspecto essencial desse sistema é que sua
produção de lucro se dá pela venda de dados de seus consumidores a anunciantes
– os metadados -, num processo cumulativo ininterrupto de coleta de
informações as mais diversas: de interesses e hábitos de consumo, de locomoção,
mas também financeiros, de saúde e muitos outros. Com isso, o Capital pode cada
vez mais aperfeiçoar e sintonizar sua comunicação com esse público, com esses
consumidores, esse proletariado expandido. Além desse controle das informações
sobre as necessidades e anseios do público, os mesmos dados servem para o
controle político e social, e para a repressão mesmo, no que hoje se chama de
“capitalismo de vigilância”.
As maiores corporações do mundo se apropriam dos dados
de todos que frequentam suas plataformas – Google, Facebook, YouTube, Netflix,
etc. - ou que adquirem seus produtos – Apple, Microsoft, Amazon – ou, em muitos
casos, as duas coisas juntas. Esses dados das vidas de todos e de cada um são,
por direito, privados. De fato, definem a própria privacidade no campo das
relações sociais contemporâneas. No entanto, eles são apropriados sem nenhuma
compensação, sem autorização e sem controle por parte do público. Essa
apropriação é muito semelhante à da mais-valia, do sobrevalor produzido pelo
trabalho que não é restituído integralmente ao trabalhador, mas apropriado pelo
capitalista que o emprega. Por isso, vejo uma identidade crescente entre o
conceito de público – receptor e consumidor de todas as mídias – e o
proletariado, isto é, o conjunto de assalariados e outros dependentes do
capital. Em ambos os casos estamos designando uma mesma população, que tem como
característica principal não ter a propriedade dos meios de produção: hoje
tanto os de sua própria vida material, como também do seu imaginário, da sua
vida no campo simbólico – ou espiritual.
As mídias audiovisuais (e o cinema)
Sem me estender muito sobre as reviravoltas
etimológicas da palavra meio (de comunicação), lembro que ela veio do
latim (medium, plural media), assim passou para o inglês e,
através da pronúncia macarrônica do plural naquele idioma, voltou para nós e
acabou sendo abrasileirada como mídia ou mídias. A ideia de meio
- uma maneira, um sistema, um suporte, um veículo ou aparelho - de comunicação
não se limita, como costumamos empregar, aos meios mais modernos ou mesmo
audiovisuais de comunicação. A escrita é um meio de comunicação. De fato, o
meio de comunicação mais básico e essencial é a fala: um meio que utilizamos com
extensão e sutileza que nos são exclusivas; constituem uma das principais
características distintivas da espécie humana entre todos os animais.
Embora a fala pudesse ser incluída num campo do áudio,
e muitos meios de comunicação sejam também visuais – a pintura, a fotografia,
mesmo a escultura –, convencionamos chamar de meios ou mídias audiovisuais os
que envolvem recursos técnicos definidos, principalmente mecânicos e
eletrônicos, em sua criação e uso. O cinema, que como sistema de captação e
projeção de imagens (ainda sem som) se consolida no final do século 19, e que,
no final dos anos 20 (um pouco depois do uso generalizado do rádio) passa
também a reproduzir o som, pode ser considerado a base do paradigma audiovisual.
Em boa medida, outros meios audiovisuais já estavam em desenvolvimento ao mesmo
tempo que o cinema: o rádio e outras formas de reprodução e transmissão do som,
e mesmo a televisão, que só vai se tornar predominante depois da 2ª. Guerra
Mundial.
A evolução técnica experimenta um salto qualitativo
com a introdução da tecnologia digital, que redefine a produção, difusão e
consumo, ou recepção, dos meios audiovisuais mais ou menos um século depois da
“invenção” do cinema. Penso que poderíamos falar em duas revoluções: uma
começando com o cinema (cujo desenvolvimento é bem anterior, desde a invenção
da fotografia, ou mesmo antes), na última década do século 19, e outra, a
digital, com generalização dessa tecnologia e a constituição da rede mundial de
computadores. Mas o paradigma audiovisual, enquanto tal, começa e se define com
o cinema.
Todo meio de comunicação implica numa linguagem, na
verdade linguagens: diversas variações e evoluções do modo de expressão do
meio. É nesse sentido, principalmente - pois há outros - que o cinema
estabeleceu o paradigma audiovisual. É sobretudo em torno da expressão
da realidade em imagens e movimento, que o cinema inaugurou, que se constituem as
variações derivadas: na televisão e em outras telas, isto é, sistemas de captação
e reprodução das imagens e sons. Na verdade, em muitos níveis, todas as formas
de expressão e comunicação, todos os meios, se influenciam mutuamente todo o
tempo, e têm suas raízes numa mesma capacidade ancestral dos seres humanos de
se comunicar, determinada pela sua vida social e pela habilidade em transformar
a natureza (e, assim, a si próprios).
Povo, proletariado e público
De certa forma, sempre existiram públicos: desde que
os homens se comunicam em suas comunidades. Mas hoje, quando falamos em
público, estamos nos referindo aos públicos do nosso tempo. De fato, com a
generalização quase absoluta dos aparelhos digitais conectados numa rede
planetária, o público contemporâneo praticamente se confunde com o
conjunto da população da Terra. Público também remete à ideia de ser público
de alguma coisa, isto é, de um espetáculo de qualquer tipo, mas também, em
outros níveis, das mídias: o público leitor, público de cinema, de televisão,
etc. Até chegarmos ao público total, esse que chamei de público contemporâneo,
que se confunde com a ideia de povo, de proletariado.
E por que essa identificação? Porque se o público é
sempre público de alguma coisa, seu papel social ainda seria, num certo
sentido, dependente, subalterno a quem produz aquela “alguma coisa”: o
espetáculo e os outros produtos industriais (livro, cinema, televisão,
internet, etc.). Como o proletariado, como já foi dito anteriormente, o público
não detém os meios de produção daquilo de que é público.
Mas a coisa é mais complicada. Ou dialética. Ainda que
ocupe essa posição formalmente subalterna, as mensagens, os sentidos de que o
público é público, se constituem socialmente através e apenas através de sua
adoção ou apropriação pelo público. Como já demonstrou Bakhtin, os sentidos
variam o tempo todo, não numa relação dualista, tipo emissor-receptor, mas numa
espiral de interação permanente, que não tem começo, não tem um lado principal:
o emissor de uma mensagem (ou de um enunciado, como diria Bakhtin), dos
sentidos nessa mensagem, já é produto de um repertório constituído; e sua
mensagem e sentidos serão reconstituídos e ressignificados pelo interlocutor,
ou pelo público. Esse é um processo permanente, que varia também segundo os
contextos históricos e sociais, em ambientes de classe, de território, etc. De
certa forma, como todos os participantes nesse processo – receptores/emissores/receptores
- estão inseridos num público geral, podemos dizer que o público não é apenas o
público de alguma coisa, mas o sujeito dialético, o autor em última instância
daquilo de que é, também, público. E, como o proletariado, que não detém os
meios de produção, mas é o produtor real e concreto de toda a riqueza, o
público é o criador, o autor de todos os sentidos. O público é, na atualidade,
a expressão no campo simbólico do que o conceito de proletariado exprime nos
campos econômico e social.
Público, proletariado, cinema e as mídias audiovisuais.
Esse público geral ou contemporâneo a que já me
referi, especificamente nessa acepção se constitui inicialmente com o advento
do cinema. Em sua formação e consolidação, o cinema formou (ou, de fato
consolidou, a história é mais complexa) um público de um novo tipo. Um público
muito mais amplo do que outras mídias tiveram anteriormente: pela primeira vez
mulheres e também crianças foram parte importante, e às vezes, numericamente
maiores que outros segmentos na frequentação desses espaços públicos. Esse
público surge com o cinema e, sem ele, o cinema – todo o dispositivo econômico
e social – também não existiria. São duas faces da mesma moeda.
O cinema também é parte da chamada modernidade: uma etapa
do capitalismo que alguns chamam de segunda revolução industrial (especialmente
no século 19 e sobretudo entre 1870 e 1920), com a confluência de diversas
inovações tecnológicas nos transportes (estradas de ferro, aviação), nas
comunicações, transformando o próprio ritmo da vida urbana. O cinema foi o
dispositivo mais importante entre outros que também caracterizam essa
modernidade, como o fonógrafo, o telefone e outros. O proletariado se consolida
na mesma época, no mesmo contexto e no mesmo processo. O público de massa
inicial do cinema era especificamente de trabalhadores e imigrantes pobres (na
segunda década do século 20 se expande ainda mais, assimilando as classes
médias).
Se o cinema foi muito importante naquela fase do
capitalismo, seu papel já evoluiu no pós-guerra com a televisão e, no final do
século, com a internet. Atualmente, as mídias ampliam e redefinem o papel do cinema
e o conceito de público. O público continua sendo a expressão do proletariado
no plano do simbólico, mas ambos mudaram. De fato, a transformação das formas
de trabalho – em boa medida devido à revolução digital – é uma das grandes
características do tempo que estamos vivendo. Muitas formas de produção,
inúmeras profissões, diversos ofícios estão desaparecendo, ou sendo
profundamente transformados e reorganizados. A revolução digital não acabou; as
revoluções não “acabam”, mas diluem-se e se integram a uma nova situação, com
suas próprias condições a serem, por sua vez, superadas. Hoje a mídias não são
apenas importantes, no sentido que o cinema inicialmente instituiu: agora elas
penetram, interferem e interagem, de forma inaudita e própria, na vida de todos
e de cada um. Em escala muito maior e numa proximidade, numa intimidade,
poderíamos dizer, inédita. E é nesse campo, hoje o mais importante, que a
direita, mesmo que superficialmente, parece ter uma dianteira.
E os cineclubes?
Os cineclubes não surgiram nos anos 20, como afirma
quase que um consenso – no entanto desinformado e equivocado -, mas junto com o
cinema, no processo de luta pela apropriação dos sentidos produzidos pela nova
linguagem, na afirmação da nova mídia. À medida que o público se formava
(processo que se consolida por volta do final da primeira década do século 20),
também evoluíam suas formas de resistência ao cinema que se organizava para dar
mais lucro e melhor entreter e controlar as massas que ele, ao mesmo tempo,
ajudava a formar.
Descontente com um cinema que, em síntese,
representava sua alienação e dominação, uma parte importante do público
resistia a procurava formas próprias de organização como sujeitos,
protagonistas do processo de produção do dispositivo do cinema. Insatisfeitos
com os filmes que lhes eram apresentados, grupos (sobretudo de militantes
socialistas, anarquistas, feministas) produziam seus próprios cinejornais,
documentários e mesmo ficções, e alugavam salas, ou usavam as das organizações
de trabalhadores, para sua apresentação. Também no final da primeira década do
século, consolidam-se iniciativas do tipo que hoje reconhecemos como
cineclubes: com estatutos democráticos e salas próprias e mais permanentes de
exibição, além da produção de filmes. Essa luta criou o que chamo de paradigma
cineclube: uma organização exemplar - uma instituição, constituída inclusive
juridicamente - para a apropriação do cinema de forma coletiva e democrática,
não capitalista. Essas mesmas características se encontrarão reproduzidas em
todas as outras formas de organização em torno do cinema – e hoje no campo mais
amplo das mídias audiovisuais - que têm origem no público, e não na estrutura
industrial, capitalista, do cinema e das mídias audiovisuais.
Nos anos 20, o cineclubismo, como ideia de organização
integral de apropriação do cinema pelo proletariado, se fragmentou, dando
origem a várias instituições: o cinema educativo, o cinema amador, os festivais
e arquivos de filmes, e mais tarde (já nos anos 50) o ensino universitário do
cinema.
A fragmentação do primeiro modelo de cineclube deu
origem a uma forma nova e dominante de cineclube: uma organização limitada em
grande medida à recepção dos filmes. A cinefilia, ou a recepção crítica do
cinema, herdou parte da tradição já estabelecida: a organização coletiva,
democrática e a ausência de finalidades comerciais. Ela teve importante papel
na disseminação e mesmo na constituição de uma cultura cinematográfica, em boa parte
crítica, nos mais diferentes países. Mas também elitista e paternalista, muitas
vezes calcada na valorização absoluta do autor e, em contraposição, numa visão
paternalista e até preconceituosa em relação ao público. De certa forma,
estabelecia um modelo hierárquico, estamental ou de castas: havia o autor,
objeto de culto; o cinéfilo, especialista, esclarecido, e o público, ignorante,
a ser dirigido, “alfabetizado”. De qualquer forma, esse modelo cinéfilo se
expandiu por praticamente todo o mundo, sendo talvez o principal instrumento de
formação de culturas cinematográficas – marcadamente nos países periféricos,
como o Brasil – contraditórias: ao mesmo tempo críticas e progressistas, mas
simultaneamente elitistas, e concentradas nos ambientes intelectuais e
universitários.
Com a televisão e outras formas de reprodução da imagem
em movimento - VHS, DVD, etc. -, que hoje podemos situar como prenúncios da revolução
digital, aquele modelo da cinefilia entrou em processo de crise. De fato, todo
o dispositivo social do cinema entrou em crise. O cineclubismo, em primeiro
lugar, diminuiu enormemente nos países centrais (anos 50); e um pouco mais
tarde, na periferia do sistema. Na América Latina, as ditaduras dos anos 70 e
80 interferem de forma diferenciada nesse processo. O Brasil, particularmente,
teve um movimento cineclubista bastante atuante até a segunda metade dos anos
80 e importantes cineclubes “independentes” até os anos 90. De toda maneira, os
muitos cineclubes que ainda existem em todo o mundo baseados naquele modelo cinéfilo,
limitado à exibição e debate de filmes considerados especiais ou mais
relevantes, constituem o que Raymond Williams chamou de formas residuais de
cultura: práticas que já não correspondem aos interesses e necessidades do
público contemporâneo e apenas refletem modos e formas, em grande parte
superados, de organização da comunicação pelo que chamamos de “imagem em
movimento”.
Isso porque o cinema morreu, metaforicamente. Apenas
de certa forma, claro, é preciso frisar. O cinema – na verdade o filme de
ficção ou documentário (excluindo todas as outras formas de cinema) exibido em
sala escura para um grupo de espectadores relativamente pequeno – já não é o
formato ou o espaço mais relevante, nem economicamente nem quanto à
participação do público. O espaço simbólico disputado pelos setores populares é
o espaço das mídias: a televisão, o computador, os celulares. O modelo cinéfilo
não (se) dá conta das mídias, não integra as mídias. O cineclubismo – como
outras instituições geradoras de valores, outros aparelhos de hegemonia – corre
o risco de morrer, como o cinema “morreu”. Ou definhar numa relativa
irrelevância cultural e social, limitado a públicos muito reduzidos e a setores
da sociedade que não são tão fundamentais nem para o próprio cinema nem para a
transformação da sociedade. É preciso um novo tipo de cineclube, para novos
tempos e novos desafios.
O cineclube no terceiro turno (no Brasil e no mundo)
Os cineclubes em todas as suas formas – o cineclube
revolucionário do início do cinema; o cineclube da cinefilia que se espalhou
por todo o mundo; o cineclube educativo que se disseminou pela educação formal
e informal; os clubes de cinema voltados para a produção amadora, entre vários
outros – influenciaram, em maior ou menor grau, a cultura e a sociedade nos
diversos países e contextos em que existiram. Na análise que fiz mais no início
deste artigo, falei da necessidade absoluta de instituições sociais e
comunitárias que organizem, representem e deem expressão aos trabalhadores, à
grande maioria da população brasileira. Um novo tipo de cineclube deve ter a
capacidade de ser uma dessas instituições. E acredito que o cineclube pode
realmente ter esse papel e uma importância fundamental nestes tempos de
centralidade das mídias audiovisuais.
Para isso, o primeiro e indispensável passo é o
reconhecimento e superação do isolamento de classe do cineclubismo. Esse
fenômeno não é brasileiro, mas mundial. Sua forma é que tem características
próprias. E estas não se devem exclusivamente – e talvez nem principalmente –
aos animadores dos cineclubes existentes. Em boa parte, explicam-se pela
própria estreiteza de muitos setores populares, naquilo que Francisco Foot Hardman
chamou de “estratégia do desterro”: uma desconfiança anti-intelectual, uma
espécie de “purismo de classe” que apenas revela a permanência de uma
incapacidade de interagir e dirigir setores mais amplos da sociedade – condição
necessária para construir uma nova hegemonia. Nos cineclubes que ainda operam
sob o modelo cinéfilo, mas que não satisfazem, de alguma forma, seus
integrantes, é necessário ter a capacidade de reconhecer a realidade: que não
conseguem reunir um número significativo frequentadores, são incapazes de
manter uma atividade mais intensa que as poucas exibições mensais ou
quinzenais, ou que, nos espaços virtuais, atingem ainda menos pessoas. Intelectuais,
professores, estudantes universitários e cinéfilos que não habitam torres de
marfim precisam procurar as organizações populares para nelas e com elas
construírem cineclubes. As escolas de ensino básico e médio – através dos seus
professores e alunos - devem se articular, integrar e atuar conjuntamente com
as organizações comunitárias de seus bairros e cidades. Os sindicatos,
associações comunitárias e movimentos populares precisam também, por sua parte,
procurar educadores, intelectuais, artistas e técnicos progressistas, ligados
às causas e projetos populares, para ajudarem a organizar e manter cineclubes
em suas sedes, ocupações, acampamentos, e formar, num espírito solidário, não
paternalista, os cineclubistas desse novo tipo. Também é necessário inventar e
expandir o modelo de organização e ocupação de espaços: cineclubes podem ser instalados
nas proximidades de igrejas, quartéis, e outras instituições que atraiam ou
reúnam grupos normalmente afastados ou excluídos de formas de entretenimento
mais crítico ou de formação mesmo. E mais, cineclube não é uma atividade
eventual, um encontro cultural mensal: nesta época de presença permanente e
ubíqua dos celulares, o cineclube deve ser uma organização complexa, que também
esteja presente na dimensão cotidiana e virtual do seu público.
Uma revolução, entretanto, no seu sentido mais pleno,
não é feita por entidades culturais ou educacionais. Certamente também não é
resultado de eleições, especialmente da forma como são realizadas hoje no
Brasil e em outras “democracias ocidentais”. São muitos os exemplos – e os
nossos são bem recentes – de governantes progressistas eleitos e logo
derrubados pela violência fascista (Salvador Allende, no Chile) ou por ardis
“parlamentares”, como aconteceu com Fernando Lugo, no Paraguai, e com Dilma
Roussef no Brasil – ou pela combinação dos dois, como com Evo Morales, na
Bolívia. Mas também não acontece “nas ruas”, exceto em estágios muito avançados
de luta, quando esse tipo de manifestação é geral, avassalador, impossível de
ser detido. Mesmo assim, geralmente isso acontece em combinação com outras
ações – sobretudo a greve geral. A mobilização para uma transformação radical
da sociedade precisa ser conduzida por uma direção política capaz de liderar a
edificação das novas instituições que vão constituir uma nova sociedade. Essa força
de mobilização ampla e radical e a capacidade de formar uma direção experiente
e capaz é produto da combinação necessária de todos esses níveis de ação e
organização. Cada um deles é essencial, mas só em conjunto podem produzir uma
transformação radical e plena.
No Brasil é bem evidente a falta – e como já disse, o
recuo histórico – de instituições culturais e formativas. Mas não falo das que
querem ensinar alguma coisa ao povo ou ao público, que querem transferir uma
cultura decorativa, pretensamente apolítica, inócua. As organizações que nos
interessam aqui precisam estar do lado da grande maioria da população, da
classe trabalhadora, e desenvolver com esse público, coletivamente, um projeto
de emancipação. Não me canso de lembrar do Cinema do Povo, criado na França em
1913, e que propus fosse considerado “o primeiro cineclube”, devido à documentação
bastante completa que mostra essa condição. Seu lema, válido até hoje – mais de
um século depois - para os cineclubes engajados nas causas populares:
“Divertir, instruir, emancipar”. É preciso atuar nessas três instâncias.
O cineclube de novo tipo
Com a crise, que já mencionei, do modelo predominante
de cineclube, o cineclube cinéfilo, várias de suas características passaram a
se desestruturar. Creio que o Brasil, pelas muitas vicissitudes que este artigo
já mencionou também, é possivelmente o país onde esse processo foi mais longe.
Hoje não existe praticamente por aqui um cineclube organizado formalmente, com
regras de participação e projetos de atuação deliberados democraticamente, e
direções eleitas regularmente. A própria palavra cineclube em seus usos mais
correntes, passou a designar apenas uma atividade - a exibição de um ou mais
filmes (no caso dos curtas-metragens) acompanhada de debate ou palestra – e não
a instituição organizada. Fala-se em “fazer um cineclube” a tal hora, em tal
lugar; não em organizar um cineclube, permanente, sistemático, representativo.
O que, a meu ver, indica uma desestruturação do modelo
“tradicional” de cineclube, de resto presente também em vários outros tipos de
organizações culturais, educativas e políticas, é muitas vezes explicado como
“informalidade” e “horizontalidade”. Haveria que se acrescentar também “gratuidade”
para descrever completamente o que não é propriamente um modelo organizativo
mas, bem ao contrário, um exemplo de incapacidade de organização institucional
e democrática e, complementarmente, de sustentação de maneira autônoma de
iniciativas estruturadas e representativas de comunidades organizadas.
Corolários dessas características, as iniciativas aqui citadas são geralmente
de grupos bem pequenos – e uma parcela significativa é mesmo exclusivamente
individual – realizadas com grandes intervalos, frequentemente mensais e
bastante precárias quanto a recursos, instalações e equipamentos.
A grande maioria dos cineclubes que assim se denominam
no Brasil e, entre eles, os de maior organização e assiduidade, está instalada
nas universidades. A instituição e os programas de verbas e bolsas de extensão acadêmica
também são um elemento fundamental para a manutenção dessas atividades. É
nesses ambientes, sem dúvida, onde melhor se realiza a proposta de exibição de
filmes de alguma forma “alternativos” e a discussão de suas características
estéticas, narrativas, políticas, entre outras. Há alguns cineclubes que são
mesmo oficiais, mantidos por uma universidade e dirigidos por professores
alocados também nessa função; estão entre os mais ativos e influentes.
Nos anos 70 e 80, num contexto de fortalecimento da
sociedade civil contra a ditadura militar, os cineclubes se reconheciam e se estruturavam
como um movimento social e cultural e se organizavam também em comunidades
populares, junto a movimentos sociais – inclusive étnicos e de gênero – e
alguns sindicatos. Com os dois governos de Lula e a criação do programa Cultura
Viva, depois seguido pelo Cine Mais Cultura (exclusivo para a exibição), o
governo investiu bastante em seus projetos de exibição de filmes brasileiros em
comunidades populares – mas já sem as características organizativas dos
cineclubes do século passado. Depois dessas duas experiências, em seus momentos
históricos, o cineclubismo de certa forma refluiu para o tipo de inserção
social que (sempre) tivera até o início da Ditadura – e que tem em quase todo o
mundo: nas classes médias cultas.
Um novo modelo de cineclube, penso, consistirá na
recuperação das características democráticas e anticapitalistas que definiram o
paradigma cineclube desde seu surgimento até a crise iniciada no terço final
do século 20. Esse paradigma, que informa e influencia todas as outras formas
de organização com origem no público, consiste na forma coletiva e democrática
de organização e na ausência de finalidade de lucro, isto é, de apropriação
privada dos resultados econômicos que a organização eventualmente produzir. O
objetivo desse paradigma de organização é a apropriação integral do cinema pelo
público organizado. Esse modelo, contudo, só será realmente novo – será a atualização
da proposta cineclubista - se incluir em sua organização e propósitos a
articulação com as mídias audiovisuais, sendo o cinema “apenas” uma delas,
ainda que uma espécie de paradigma ele também, nas bases das inovações e
diferenciações nas linguagens desenvolvidas em outras mídias.
Recompor e atualizar a proposta cineclubista de
organização integral para a apropriação das mídias audiovisuais pelo
público, na perspectiva de transformação democrática radical dos processos de
expressão, comunicação e informação, bases estruturais de uma sociedade livre e
justa. Em outras palavras, cineclube não pode mais ser cinefilia, no sentido de
culto elitista do cinema. Mas também não pode ser “exibição e debate” que, no
fundo, exprime objetivo semelhante. As tecnologias digitais, a difusão global de
conteúdos e as perspectivas, em sua maior parte não realizadas, de
interatividade - isto é, participação -, permitem a reconstituição da totalidade
do processo produtivo da expressão audiovisual sob a forma do paradigma
cineclube. A produção, a difusão, o consumo ou recepção, e a preservação da
memória, do patrimônio imagético das comunidades humanas pode hoje ser
integrado num mesmo processo, organizado num mesmo espaço social (comunitário):
o do cineclube. A divisão de trabalho capitalista, organizada por setores
corporativados (as “indústrias” de produção, distribuição e exibição), pode ser
superada pela organização integral, democrática, participativa, do público
informado e organizado, e pela sua intercomunicação planetária em redes livres
e públicas.
O novo modelo de cineclube deve integrar todas as
mídias num processo unificado de atividades orgânicas e críticas nos campos da
informação, da formação e educação, do entretenimento produtivo, da preservação
da memória e das identidades e da diversidade. Deve saber ocupar, organizar e
gerir as dimensões presenciais e virtuais de suas atividades. Articular a dimensão
comunitária, local, de base, e a dimensão social, planetária, em redes.
O objetivo político do novo tipo de cineclube, aquele que pode ajudar a construir uma novo modelo de comunicação e uma nova sociedade, é superar e substituir as instituições vigentes: alienantes, controladoras, de dominação. Em uma palavra: capitalistas. O objetivo político do novo tipo de cineclube é a substituição/superação das sala comerciais de cinema, das televisões e das redes sociais.
O objetivo político do novo tipo de
cineclube não é modesto, não é fácil e não é simples. É apenas indispensável.
Algumas referências no texto:
Freire, Paulo – Pedagogia do
Oprimido - https://cpers.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Pedagogia-do-Oprimido-Paulo-Freire.pdf
Gramsci, Antonio. 2002. Cadernos
do Cárcere. 6 volumes. São Paulo: Civilização Brasileira – também
acessível na internet.
Maquiavel, Nicolau. 2019. O
Príncipe. Ed. Do Senado Federal (https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/573552/001143485_O_principe.pdf)
Bakhtin, Mikhail (Voloshinov,
Valentin). 2014. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec.
(https://hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/Bakhtin-Marxismo_filosofia_linguagem.pdf)
Williams, Raymond. 2011. Cultura
e Materialismo. São Paulo: UNESP. (https://www.academia.edu/34926870/williams_raymond_cultura_e_materialismo_pdf)
Hardman, Francisco Foot. 1984.
Nem pátria nem patrão! Cultura operária e anarquista no Brasil. Ed. Brasiliense
(https://pdfcoffee.com/nem-patria-nem-patrao-francisco-foot-hardmanpdf-pdf-free.html)
Rocha, Glauber (dir.) O Dragão
da Maldade contra o Santo Guerreiro – 1969 - (https://www.youtube.com/watch?v=SSEnlffMB5s&t=695s)
DIEESE - Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (https://www.dieese.org.br/)
Política Nacional Aldir Blanc:
a nova legislação para a cultura comunitária pode mudar muita coisa. Ou
não.
Este não é um trabalho acadêmico,
apesar da extensão. É uma análise da nova legislação da cultura que pode desaguar
em propostas inovadoras de organização das comunidades. Comunidades que são a
base da sociedade brasileira. Comunidades territoriais, como bairros, pequenas
cidades, aldeias. Comunidades de identidade social e cultural, que vão desde
sindicatos, assentamentos, ocupações, até movimentos organizados de mulheres,
de negros, de orientações LGBTQIA+, de indígenas, de imigrantes e outros. E há
ainda uma infinidade de comunidades ligadas a espaços de trabalho, convivência
e luta, muitas sem quase nenhuma organização: fábricas, grandes lojas, centros
logísticos, call centers, quarteis, portos, navios e muitas outras.
Este é um texto com propostas
militantes, quase um manifesto. Uma reflexão militante para militantes. Para
militantes cineclubistas que percebem ou intuem os problemas que hoje limitam
sua atuação: os cineclubes parecem não conseguir se estabelecer de forma mais
permanente, principalmente junto de comunidades populares, fora dos ambientes
universitários. Para militantes de movimentos sociais e comunitários
interessados na apropriação e no uso das mídias audiovisuais na organização de
suas comunidades, saindo também de um modelo meio limitado de objetivos apenas
imediatos – eleições, manifestações de rua - que não incluem o desenvolvimento
das identidades, das consciências de cada um e de todos de seu papel na
história e na transformação profunda da sociedade. Para professores e
educadores que, vendo crianças, adolescentes e jovens adultos presos em seus
celulares, querem empregar as mídias audiovisuais mais que para ilustrar certas
matérias ou para copiar as formas burguesas de formação cultural.
O Congresso derrubou, no dia 5 de
julho, os vetos às chamadas lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo daquele idiota maléfico
e perigoso que responde pelo poder executivo no Brasil. Esse acontecimento terá
um impacto muito grande no campo da cultura, especialmente na esfera que quero
qualificar de comunitária[i] e,
proporcionalmente, nas atividades cineclubistas. Num certo sentido, pode ter um
efeito de dimensão histórica em nosso meio específico. Ou não. Isso vai
depender da capacidade de mobilização, de pressão, das comunidades organizadas.
Elas podem entender os espaços políticos criados por essa nova legislação como
um conjunto de oportunidades para organizar e consolidar seu trabalho nas
comunidades a partir de uma perspectiva planejada a mais longos prazos. E que
deve levar a uma autonomia completa: cobrando, mas sem se colocar na
dependência do Estado. Mas podem, também, enxergar apenas a chance imediata e oportunista
de conseguir uma verba para um evento, ou um projeto de no máximo alguns meses,
que não vai na direção de construir, de adicionar. E que depois fica à espera,
na dependência de uma próxima verba que, geralmente, demora bastante: o tempo
de esgotar ou enfraquecer significativamente os resultados obtidos
anteriormente.
Acho que há muitos aspectos que
devem ser considerados para compreender, abarcar toda a significação da nova
legislação. Vou procurar ser o mais sucinto que expor claramente as ideias me permita,
mas devo passar por uma rápida introdução. E pela análise dos textos. O tema é
muito importante; é vital mesmo, para a cultura comunitária, e precisa ser
compreendido da maneira mais completa possível.
Políticas culturais: Estado, mercado e comunidade
Produções, artistas, produtores
Hoje em dia, nem mesmo os países
ou democracias mais liberais deixam de compreender que cabe ao Estado um papel
indutor do processo cultural. Mas, herdeiros de uma tradição liberal, elitista
quanto ao que se chama de “artes”, entendem as diversas formas de expressão
nesse campo – literatura, teatro, cinema, música, dança, etc. – como resultado
exclusivo da ação de autores, de artistas; ou de produtores, entendidos como empreendedores
individuais ou empresas mesmo, de todos os tamanhos. A audiência, isto é, a
grande maioria das pessoas, é plateia[ii]:
seu papel é validar essa produção.
Mais recentemente – afinal estamos
falando de liberalismo e do Brasil – criou-se o conceito de economia criativa
(uma certa redundância, já que a economia, o processo econômico geralmente
cria: bens e serviços de todo tipo). Essa noção busca integrar ideologicamente
a cultura ao mercado, mesclando a criação – em princípio subjetiva, social –
com a economia, reduzida à sua acepção como indústria: capitalista e de mercado.
A criação, assim, vira empreendedorismo, e, embora as manifestações populares
não industrializadas tenham sempre tido pouca acolhida nas políticas reais do País,
qualquer nível de criação parece agora indistinta da produção claramente
comercial: é tudo economia criativa. Que economia produzem os cineclubes, por
exemplo, que sequer recolhem qualquer tipo de contribuição (exceto do Estado
mesmo), por exemplo? Certamente não é a mesma que a dos unicórnios[iii]
de videojogos[iv]
que, por definição, recolhem muitos milhões de investimentos privados.
A centralidade do artista, do
autor como expressão individual e mais elevada do sentido das artes, e o papel
do Estado como guardião e mantenedor do patrimônio de grandes talentos e obras
nacionais foi típica do império e da velha república. Isso foi paulatinamente
substituído pela figura da empresa produtora de conteúdos “criativamente”
econômicos, regulada pelo mercado, que o Estado complementa (como nas outras
políticas econômicas públicas) e ao qual se subordina. Caberia uma comparação
com as transferências de “direito autoral” para as empresas que o exercem como
direito de “propriedade intelectual” ...
Mas, mesmo antes dessa
nomenclatura criativa, começando com a Constituição de 1988 e culminando com os
primeiros governos do Partido dos Trabalhadores, a dimensão comunitária da
cultura e o cidadão – em outras palavras, o membro do público – como sujeito,
foram também incluídos no campo das políticas públicas.
Cultura comunitária ou autoral? (as heranças de Gil e Juca)
Gilberto Gil, ministro de 2003 a
2008 (governos Lula da Silva) fez uma gestão muito inovadora em várias áreas da
cultura e sob muitos aspectos. Talvez o mais importante e, ao mesmo tempo,
menos implementado, tenha sido a proposição de uma estrutura institucional de
Estado para a cultura, com a criação do Sistema Nacional de Cultura, uma
estrutura complexa baseada na integração do governo federal, os estados e
municípios. E que prevê, também, uma forma bastante determinada de participação
da sociedade civil - o ponto mais fraco desse projeto. Falar mais sobre isso,
que seria bem importante, estenderia demais este texto. É tarefa para outro
artigo.
No que mais nos interessa agora, Gil
comparou sua concepção de política pública para a área da cultura de base
comunitária com a técnica do do-in da acupuntura chinesa, que
consiste em massagear determinados pontos do corpo para estimular a circulação
de energias. Caberia, assim, ao Estado dar um empurrãozinho nos “pontos”
culturais do corpo social organizado para que eles pudessem adquirir força e
autonomia para fazer a cultura circular. Aquele início de século era também um
tempo em que se discutia muito as novas tecnologias digitais e os novos meios
de comunicação através da internet. A democratização desses recursos era
chamada de inclusão digital. A ideia do do-in somou-se à de inclusão
digital em um trabalho realizado dentro do ministério que levou ao programa
Cultura Viva. Este último consistia fundamentalmente em dar um impulso
financeiro, durante três anos, para consolidar as entidades beneficiadas. Além
disso, também fornecia equipamentos digitais para a integração das novas
técnicas às práticas das organizações populares.
A ideia parecia (e era) excelente,
teve grande repercussão entre a intelectualidade e foi, inclusive, replicada em
outros países (cada um à sua maneira) da América Latina. O ciclo desse
processo, visto em retrospectiva, foi muito rápido. Foram três ou quatro anos
entre o início efetivo do programa e sua descontinuação definitiva. Ao ser
posta em prática, a proposta começou a se contaminar com os vícios atávicos do
Brasil e das políticas de governo: o empurrãozinho nas organizações sociais
existentes transformou-se em fomento de novas instituições praticamente criadas
pelo Estado, através de editais que configuravam as formas e campos de proposição
e atuação dos agora denominados Pontos de Cultura, que surgiram - se
constituíram ou se transformaram - por causa e a partir do programa. O
Ministério também patrocinou encontros e outras atividades dos referidos Pontos
(ao contrário de outros setores). O do-in passou de impulso à comunidade a
indutor de novas formas de organização a partir do governo. A ideia de um
estímulo financeiro inicial visando a autonomia virou perspectiva de dependência
permanente. De fato, ao invés de se organizar e criar bases de sustentação autônomas,
os Pontos subsidiados pelo Estado gastaram integralmente os recursos e passaram
a esperar por uma renovação sistemática e permanente que, ao fim, não veio. O
sistema teve também muitos problemas administrativos, burocráticos. O ministro
saiu logo no início do programa, sendo substituído por Juca Ferreira, principal
gestor do programa, que ficou menos de dois anos, até o final do mandato. Dilma
Roussef, sucessora de Lula, não teve em nenhum momento uma administração
notável na área da cultura e não deu continuidade a boa parte dos projetos dos
ministros Gil e Ferreira. Como tantas “políticas públicas” no Brasil, essa
também não se consolidou, nem mesmo em um governo de continuidade.
Outro traço menor e oportunista foi
a reprodução generalizada e quase indiscriminada da ideia, agora já meio
corrompida: foram criados pontões e pontinhos de cultura, e um
projeto especial para os cineclubes que tem uma história colateral[v]: a
dos cines+cultura ou simplesmente cines. Esses cines, como o nome
já meio que sugere, eram mais pontos de exibição para os filmes produzidos
pelos projetos de apoio ao curta-metragem do Ministério do que propriamente
cineclubes, isto é, associações comunitárias democraticamente constituídas. Não
se buscava organizar o público, mas antes formar plateias para aqueles filmes. Eram
iniciativas meio profissionalizadas – na participação em editais - em que o
público era apenas uma plateia desorganizada para os filmes que não tinham
nenhum outro espaço, de tipo mais comercial, para serem exibidos. De movimento
do público, passaram a plateia, mercado (uma espécie de mercado, já que a
“economia criativa” era fornecida pelo Estado: houve mesmo quem chamasse isso
de “Pós-Capitalismo Industrial” ...) para os realizadores amadores.
De certa forma, a proposta de
articulação cultural comunitária retrocedeu à situação da hegemonia do artista,
do autor, do realizador, na maior parte das iniciativas do Ministério no campo
do audiovisual. Campo em que sempre se incluiu os cineclubes e as plateias,
considerados como meras extensões e produto da produção cinematográfica. Isso
também tem uma explicação mais política: os realizadores de curta-metragem e
suas entidades representativas tiveram uma importante inserção no próprio
Ministério e, como segmento das classes médias locais, tinham um impacto
político e midiático muito maior que as comunidades populares pouco
organizadas. Talvez injusta e coincidentemente, a gestão de Juca Ferreira ficou
marcada por tudo isso e pela desarticulação do movimento cineclubista[vi]
brasileiro. E de várias outras iniciativas comunitárias, incluindo a maior
parte dos Pontos de Cultura. Juca Ferreira voltaria ao cargo já no final –
imprevisto - do segundo mandato de Dilma Roussef, também marcado pela
desarticulação do governo e pelo golpe parlamentar de 2016.
Cineclube, público, comunidade
O pequeno PCB (Partido Comunista
Brasileiro) tem uma palavra de ordem muito estimulante: construir o poder
popular. Mas, aparentemente, os partidos mais ligados à classe
trabalhadora, que pretendem representá-la, ainda estão bem distantes desse
objetivo[vii].
Agora, saindo da esfera partidária, o que pode ser o poder popular? Penso que
essa ideia se articula com as ideias de Marx e Engels, que já em 1850 escreviam
para os Clubes de Trabalhadores[viii]
(herdeiros, mas também precursores de várias formas de organização popular,
inclusive dos cineclubes) chamando-os de formas do futuro
Estado dos trabalhadores. Na mesma linha, Gramsci também propunha a
organização de instituições criadoras de valores (valores éticos, bem
entendido), ou aparelhos de hegemonia, para não apenas se contraporem,
mas para substituírem as instituições hegemônicas burguesas, preparando e já
construindo o mesmo futuro Estado dos trabalhadores. Essas formas de
organização, as instituições orgânica e ideologicamente ligadas à classe
trabalhadora, aos excluídos, discriminados, perseguidos – no nosso caso, o povo
brasileiro (excluindo os donos do poder e seus associados) – é que
corporificam, constroem o poder popular. São parte importante, indispensável,
de um futuro poder popular. Com elas se edificam as instituições inovadoras que
constituirão a governança de um sistema político radicalmente democrático,
inclusivo e igualitário.
Os cineclubes são, ou podem ser,
parte disso. Eles têm uma condição muito especial: representam uma forma de
organização democrática, uma herança popular forte e atuam, em princípio, no
campo mais importante da comunicação, da informação, da mediação das relações
sociais e da expressão do campo popular: as mídias audiovisuais. Sua
participação na construção de um poder popular pode ser fundamental. Ou não
será nada. Passará, como passaram os cines.
Os cineclubes surgiram com uma
reação do público a um cinema que se instituía à sua revelia e que foi
instrumental na sua subordinação. Os primeiros cineclubes não usavam ainda esse
nome: chamavam-se Cinema dos Trabalhadores, Cinema do Povo, Clube da
Periferia... Isso em torno de 1910. Seus organizadores eram imigrantes, trabalhadores,
militantes socialistas, anarquistas, feministas. A partir dos anos 20 o nome
cineclube se generalizou, mas num ambiente mais de intelectuais burgueses e da
classe média. Paralelamente, com forte influência da Revolução Soviética,
continuaram a se propagar os cineclubes de trabalhadores, agora com nomes como
Clube dos Amigos de Spartacus (França, 1928), assim como as inúmeras Ligas de
Cinema dos Trabalhadores, em todo o mundo. Na própria União Soviética houve um
forte esforço de divulgação do cinema, um programa chamado mesmo de cineficação,
através de diversos tipos de exibições ambulantes e da organização de milhares
de clubes comunitários de cinema sediados, justamente, nos Clubes de
Trabalhadores, uma categoria essencial dentre as muitas formas de organização
do poder popular naqueles tempos e circunstâncias.
De fato, a tensão entre um caráter
mais elitista e a herança e tendência revolucionária se mantém até hoje no que
chamamos de movimento cineclubista. E essa tensão está presente tanto nos
círculos cineclubistas de classe média – que constituem a maioria - como entre
as iniciativas que se desenvolvem em ou buscam ambientes mais proletários, de
negros, de mulheres, de diversidade de gêneros ou de defesa dos povos indígenas
e do meio ambiente.
As iniciativas cineclubistas que
se espalharam por todo o mundo sob o influxo da cinefilia, primeiro nos anos
20, depois ainda mais fortemente nos anos 50 e 60, construíam castelos
elitistas de um verdadeiro culto ao cinema. Mas, ao mesmo tempo, adotavam,
conservavam a associação democrática, a ausência de finalidade lucrativa e,
mesmo elitista, o debate livre de ideias e convicções, a palavra do público,
herdados dos seus antecedentes proletários. No outro lado, se colocarmos a
coisa dessa maneira, cineastas e cineclubistas de esquerda procuravam
representar ou mesmo dar voz aos trabalhadores e outros explorados, mas tiveram
grande dificuldade de se livrar do mesmo viés cinéfilo que é a autoria
individual, categoria essencialmente burguesa, proprietária, ligada ao
empreendedorismo e à propriedade privada. O estabelecimento efetivo de uma
ligação entre o cineclubismo e a grande maioria do povo é uma questão
irresolvida, inalcançada – ainda que muito procurada.
Hoje, no Brasil muito
especialmente, a herança cineclubista está bastante desvirtuada, dispersa,
enfraquecida, devemos admitir. Praticamente já não existe a característica mais
essencial que definiu os cineclubes - e ainda define bastante em outros países
– durante mais de um século: o associacionismo democrático. Em nosso
país não há mais cineclubes, propriamente, mas sobretudo diferentes práticas
cineclubistas. Atividades meio esparsas, conceitos genéricos, formas de
senso comum, que mais justificam do que caracterizam – e menos ainda, organizam
– esse “cineclubismo”. Ideias como a de que “o cineclube é onde se passam
filmes de acesso mais difícil”, isto é, que não estão nos grandes circuitos
comerciais ou nos serviços de televisão sob demanda. É uma retomada do “cineclubismo
do bom filme”, base da cinefilia elitista e dos cineclubes católicos até pouco mais da metade do século passado. Mas
não se trata de escolher os filmes para o público (ainda mais que
atualmente praticamente todo conteúdo pode ser visto, acessado de alguma
maneira), mas de organizar o público para que ele se expresse no campo
do audiovisual. Em vez de curadorias de filmes “difíceis”, incomuns – que
geralmente apenas organiza o gosto dos próprios promotores da iniciativa – é o
público que deve escolher a programação. E isso não é uma utopia: não existe
essa diferença, verdadeira hierarquia, entre filmes de difícil acesso,
incomuns, filmes melhores ou piores. Não tem fundamento essa pretensão de
ensinar o público, “alfabetizar o olhar” de quem já nasceu num universo de
conteúdos audiovisuais. O que existe é o público, o contexto, a
experiência deste. Criado o ambiente, o hábito, dentro das necessidades e
habilidades desenvolvidas pelo coletivo, qualquer filme pode ser passado e
debatido, e apreciado por toda uma comunidade. O filme é secundário. Para
um cineclubismo do público é necessária a organização, a associação. Mas
cineclube é ainda muito mais do que isso. Tal como os primeiros cineclubes, e
os cineclubes proletários que se seguiram, o objetivo maior da organização do
público é a sua capacidade de se expressar. Mas não na dimensão burguesa da
cinefilia, do filme de autor, e sim de todas as formas de expressão audiovisual
que integrem a comunidade e ajudem a construir o poder popular futuro. Não
apenas filmes – entendidos como narrativas lineares (ou mesmo mais “inventivas”)
– mas reportagens, depoimentos, debates (que as “lives” já prenunciam), as transmissões
de espetáculos diversos – culturais, esportivos, políticos -, de acontecimentos
da comunidade, de um tele ou videojornalismo do ponto de vista do
povo, de séries e novelas ambientadas nas classes e ambientes populares, com
roteiro e produção construídos coletivamente...
Uma política de Estado construída
sem a participação e da pressão da população será sempre incompleta, quando não
apenas ineficiente. Ou mesmo oportunista e de cooptação. Por isso é
indispensável compreender essa nova legislação – potencialmente de
alcance sem precedentes – e ocupar, crítica e ativamente, os espaços
sociais, culturais e políticos que ela pode facilitar.
Gustavo e Blanc: uma decupagem[ix]
Lei Paulo Gustavo
A chamada lei Paulo Gustavo não
cria uma nova política de cultura, que é o queremos discutir aqui. Examiná-la
se presta mais a revelar certos vícios que contaminam as próprias concepções de
cultura que circulam nos meios ditos políticos do Brasil. Isso tem importância
para a análise, que se seguirá, da Política Nacional Aldir Blanc. A lei Paulo Gustavo se define como uma medida
emergencial. Proposta como um conjunto de ações em tempos de pandemia, irá
vigorar apenas nos últimos meses de 2022 (paradoxalmente já um tanto fora desse
contexto pandêmico). Mais que isso, como mais de 70% (2,797 bilhões) dos seus
recursos são destinados ao audiovisual - esse termo bastante impreciso – e,
desses quase três bilhões, outros 70% (1,957 bilhão) irão diretamente à
produção de cinema, o caráter emergencial da medida consiste, na
verdade, na recuperação dos recursos perdidos pela produção cinematográfica
brasileira[x]
durante o atual desgoverno. Não se trata de comunidade, mas de mercado – que
também é importante para a cultura nesta fase. Uma quantia menor, apensa a
esses recursos para o “audiovisual”, tem menos interesse para nós: é um projeto
imediatista, “uma verba a ser aproveitada”, como já dissemos, mas sem
perspectiva de continuidade. E, pior que isso, essa parte da Lei exclui os cineclubes.
Esses outros recursos (1,65
bilhão) irão para os setores que não sejam audiovisuais, conforme o
parágrafo terceiro do Art. 8º da Lei: É vedada a utilização dos recursos
previstos neste artigo para a realização de ações voltadas ao setor audiovisual
nos termos do art. 5º. O tal do artigo 5º, na verdade, traz a relação de
valores (do total de 3,862 bilhões) para cada atividade, e remete ao artigo 6º,
que é importante destacar aqui para os nossos objetivos cineclubistas. O artigo
6º lista as ações emergenciais que deverão ser apoiadas. Juntando os
dois (5º e 6º) para nossa contribuição, as áreas e valores são:
I –
o apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras
formas de financiamento, inclusive aquelas com origem em recursos públicos ou
financiamento estrangeiro (1.957 bilhão);
II –
o apoio a reformas, restauros, manutenção e
funcionamento de salas de cinema, incluindo a adequação a protocolos
sanitários relativos à pandemia da covid-19, sejam elas públicas ou privadas,
bem como cinemas de rua e cinemas itinerantes (447,5 milhões);
III
– a capacitação, a formação e a qualificação no audiovisual, o apoio a
cineclubes e à realização de festivais e mostras de produções
audiovisuais, preferencialmente por meio digital, bem como a realização de
rodadas de negócios para o setor audiovisual, para a memória, a preservação e a
digitalização de obras ou acervos audiovisuais, ou ainda o apoio a
observatórios, publicações especializadas e pesquisas sobre audiovisual e ao
desenvolvimento de cidades de locação (224,7 milhões); e
IV –
o apoio às micro e pequenas empresas do setor audiovisual, aos serviços
independentes de vídeo por demanda cujo catálogo de obras seja composto por
pelo menos 70% (setenta por cento) de produções nacionais, ao licenciamento de
produções audiovisuais nacionais para exibição em TVs públicas e à distribuição
de produções audiovisuais nacionais (167,8 milhões).
Mas tem mais: 1,65 bilhão, como já dissemos, vai para
setores não audiovisuais. E aí fica clara uma das grandes confusões que
enxarcam essa legislação – e remetem a um problema central dos cineclubes. Se
não atuarmos com firmeza nas frentes políticas locais de negociação dos nossos
projetos, essa confusão vai nos prejudicar bastante. Voltaremos a isso no item
“Análise da PNAB”, mas aqui já indicamos que este trecho da lei,
paradoxalmente, sugere que várias dessas ações não audiovisuais sejam
promovidas através da internet e gravadas. Os cineclubes estão na parte do
audiovisual (item III do parágrafo 5º.), e expressamente vetados aqui, mas
poderiam muito bem ser compreendidos dentro desta seção da Lei, que visa:
I – o apoio ao
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária;
II – o apoio,
de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, a
agentes, iniciativas, cursos ou produções ou a manifestações culturais, incluindo
a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas
pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras
plataformas digitais e a circulação de atividades artísticas e culturais já
existentes; ou III – o desenvolvimento de espaços artísticos e culturais,
microempreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas culturais,
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as
suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social para
enfrentamento da pandemia da covid-19.
Desta forma, e como a Lei induz
e determina o entendimento dos cineclubes como parte do segmento
dito audiovisual, só estaríamos aptos a demandar recursos no valor de 224,7
milhões, divididos entre os estados e municípios e com as outras atividades
previstas nesse item: festivais, formação e outras. No fim seguramente não será
muita coisa. E mais: os cineclubes também não estariam inclusos no apoio a “reformas,
restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema...” nem “cinemas
itinerantes” (item II do art. 6º). Pela leitura usual dos proponentes da
Lei e seus aplicadores, os cineclubes tendem a ser apenas aquelas sessões com pouca
estrutura, conforto ou sistematicidade: estão confinados no item III do artigo
em referência.
No entanto, como os recursos serão
geridos entre os estados e os municípios (50% para cada nível) os cineclubes
podem tentar exercer uma pressão social e política maior nessas instâncias –
sobretudo em seus municípios – e, dessa forma, argumentar que também se
qualificam para os dois itens do art. 6º e para os três subitens referentes a
atividades não audiovisuais...
Os demais artigos da Lei Paulo
Gustavo descrevem genericamente seus objetivos, fontes de recursos e outros
temas que não levantam questões mais discutíveis aqui no nosso escopo.
A Política Nacional Aldir Blanc
Aqui é que está o mais importante. Como o nome já indica, não se trata de uma lei com
duração determinada, emergencial como foi a Lei Aldir Blanc original e é a Lei
Paulo Gustavo. Agora trata-se de uma política de Estado, só que proposta e
deliberada no plano do Congresso, do poder Legislativo, ao contrário das
iniciativas em governos anteriores, em que as propostas vinham do poder
Executivo, no âmbito do antigo ministério da Cultura. A razão dessa mudança é a
inação ou combate mesmo à cultura por parte do desgoverno atual.
Essa condição tem um significado e
um resultado muito especiais: como o governo federal é francamente hostil à
cultura, essas últimas leis passaram praticamente toda a administração final dos
recursos para os estados e municípios. No caso da Política Nacional Aldir
Blanc, fez-se isso com um programa que passa a constituir uma política
permanente, gerida sobretudo pelos estados e municípios. Isso é de importância
fundamental, mas trataremos disso um pouco mais adiante. Antes, o que a nova
legislação prevê:
Primeiro, serão 3 bilhões no
primeiro ano, corrigidos pela variação do PIB nos anos posteriores. Segundo,
conforme o art. 5º, esses recursos serão usados para apoiar:
I - fomento,
produção e difusão de obras de caráter artístico e cultural, inclusive a
remuneração de direitos autorais;
II - realização
de projetos, tais como exposições, festivais, festas populares, feiras e
espetáculos, no País e no exterior, inclusive a cobertura de despesas com
transporte e seguro de objetos de valor cultural;
III - concessão
de prêmios mediante seleções públicas;
IV - instalação
e manutenção de cursos para formar, especializar e profissionalizar agentes
culturais públicos e privados;
V - realização
de levantamentos, de estudos, de pesquisas e de curadorias nas diversas áreas
da cultura;
VI - realização
de inventários e concessão de incentivos para as manifestações culturais
brasileiras que estejam em risco de extinção;
VII - concessão
de bolsas de estudo, de pesquisa, de criação, de trabalho e de residência
artística, no País ou no exterior, a artistas, a produtores, a autores, a
gestores culturais, a pesquisadores e a técnicos brasileiros ou estrangeiros
residentes no País ou vinculados à cultura brasileira;
VIII -
aquisição de bens culturais e obras de arte para distribuição pública e outras
formas de expressão artística e de ingressos para eventos artísticos;
IX - aquisição,
preservação, organização, digitalização e outras formas de promoção e de
difusão do patrimônio cultural, inclusive acervos, arquivos, coleções e ações
de educação patrimonial;
X - construção,
formação, organização, manutenção e ampliação de museus, de bibliotecas, de
centros culturais, de cinematecas, de teatros, de territórios arqueológicos e
de paisagens culturais, além de outros equipamentos culturais e obras
artísticas em espaço público;
XI - elaboração
de planos anuais e plurianuais de instituições e grupos culturais, inclusive a
digitalização de acervos, de arquivos e de coleções, bem como a produção de
conteúdos digitais, de jogos eletrônicos e de videoarte, e o fomento à cultura
digital;
XII - aquisição
de imóveis tombados com a estrita finalidade de instalação de equipamentos
culturais de acesso público;
XIII -
manutenção de grupos, de companhias, de orquestras e de corpos artísticos
estáveis, inclusive processos de produção e pesquisa continuada de linguagens
artísticas;
XIV - proteção
e preservação do patrimônio cultural imaterial, inclusive os bens registrados e
salvaguardados e as demais expressões e modos de vida de povos e comunidades
tradicionais;
XV - realização
de intercâmbio cultural, nacional ou internacional;
XVI - ações,
projetos, políticas e programas públicos de cultura previstos nos planos de
cultura dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
XVII - serviço
educativo de museus, de centros culturais, de teatros, de cinemas e de
bibliotecas, inclusive formação de público na educação básica;
XVIII - apoio a
projetos culturais não previstos nos incisos I a XVII deste caput considerados
relevantes em sua dimensão cultural e com predominante interesse público, conforme
critérios de avaliação estabelecidos pelas autoridades competentes dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
O item XVIII resume bem: ao fim e
ao cabo, tudo que puder ser considerado como cultural e de interesse público
(em outro momento o texto indica que essa avaliação caberá aos estados e
municípios) poderá ser incentivado e receber os recursos previstos anualmente. Os
cineclubes poderão negociar, nos estados e municípios, de forma livre e
criativa (ver na sequência, “Análise da PNAB”) os diferentes tipos de projetos
que poderão apresentar.
Aqui já não há a divisão entre o
que é audiovisual ou não. Essa distinção provavelmente se deveu originalmente à
separação de funções entre a Ancine (que gere os recursos para a indústria
audiovisual) e o antigo ministério, hoje reduzido a uma repartição do Turismo,
que deveria tratar do “estritamente cultural” (mas mesmo naquela época, os
cineclubes estavam sob a égide da SAV - Secretaria do Audiovisual -, no
ministério). A Política Nacional Aldir Blanc meio que supõe uma breve superação
do estado anômico de coisas em que estamos. Mas, ainda que seja bastante
provável a recriação do ministério da Cultura em um próximo governo, essa
legislação voltada para estados e municípios deverá ser mantida: é lei.
A Política Nacional Aldir Blanc
(que passaremos a abreviar como PNAB) é de uma importância única.
Análise da PNAB
Políticas e cultura
Há muitos sentidos possíveis para
a palavra política, tal como para o termo cultura. Num sentido mais restrito,
tanto a PNAB como a legislação que a precedeu (Gustavo e Blanc 1), representam
genericamente uma conquista progressista muito surpreendente diante e dentro do
ambiente conservador e oportunista da maior parte do Congresso, e o pior, do
fascismo instalado nos diversos níveis, até o mais alto, do Executivo.
Há algumas hipóteses para que isso
tenha acontecido. Em primeiro lugar, os partidos e seus representantes no
Parlamento pouco ou nada sabem de cultura[xi] e/ou
têm interesse nela (com exceção de parte do PT e do PCdoB, que têm propostas
concretas para esse campo desde o primeiro governo Lula, e de outros poucos
casos individuais isolados, dispersos em alguns partidos). No caso da Aldir Blanc
1, a maioria dos parlamentares, provavelmente sem ler direito a proposta, viu
no projeto uma medida anódina para eles e simpática aos eleitores; o texto deve
ter passado mais ou menos da mesma forma pelos estafermos do Executivo. Já nas
propostas da Paulo Gustavo e da PNAB houve um trabalho da sua tropa parlamentar
para que o chefe do Executivo vetasse as duas. De volta ao Congresso,
possivelmente pelo mesmo processo anterior, com a presença de vários artistas e
personalidades da indústria do entretenimento trabalhando pela derrubada dos
vetos, eles foram revistos com grande votação (praticamente unânime no Senado e
com forte maioria na Câmara). Cerca de 40 deputados bolsonaristas, no entanto,
votaram pela manutenção dos vetos.
Num sentido mais ambicioso, uma
política para a cultura procura entender, integrar e estimular uma cultura
ampla, representativa, diversa. Isto está principalmente contemplado na PNAB,
de efeitos mais duradouros, sobretudo em seu campo social e em seus objetivos:
nos primeiros 5 artigos. Os artigos 6º a 8º definem valores e formas de aplicação;
um destaque importante é que o art. 7º, inciso I, alínea b, e o art. 9º incluem
aluguéis para a manutenção de espaços culturais; o art. 9º indica as
medidas da legitimidade (além da manutenção de atividades regulares) desses espaços:
são as formas públicas de cadastro, da esfera municipal à federal, mas exclui
os cartórios, onde esse “cadastro” teria que ser de uma associação, com ou sem
fins lucrativos. O art. 10º, item XXIV confirma isso, definindo o que é espaço
cultural: basicamente qualquer iniciativa que tenha sido cadastrada nos
termos do artigo. O artigo 10º elenca diversos exemplos, inclusive cineclubes
(item V) do que são espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais,
resumindo, ao final, que tudo que for cadastrado pode ser aceito.
Antes disso, porém, art. 10 define
o que sejam esses espaços, ambientes e iniciativas:
(são) aqueles
organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil,
microempresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com
finalidade cultural e instituições culturais sem fins lucrativos que tenham
pelo menos 2 (dois) anos de funcionamento regular comprovado e que se dediquem
a realizar atividades artísticas e culturais...
A PNAB mantém, assim,
indiscriminadamente, a legitimidade de iniciativas individuais e mesmo
comerciais. Os demais artigos da PNAB (são 17 no total) tratam de aspectos mais
administrativos – fontes e tratamento dos recursos pelos órgãos públicos,
prestação de contas, etc. - da nova política.
A PNAB deve se inserir tanto no
Sistema Nacional quanto no Plano Nacional de Cultura, já que estes são
dispositivos constitucionais para a gestão cultural do País. O atual governo
abandonou esses dispositivos[xii];
mais que isso, sua prática foi de destruição de estruturas e políticas no campo
cultural. Nessa conjuntura, as três leis mencionadas neste texto propuseram
estados e municípios como executores, afastando a atuação das esferas federais,
mortalmente contaminadas. Essa mudança de enfoque, ainda que sobretudo
conjuntural, constitui justamente o aspecto mais importante da PNAB.
Esta lei, mais especificamente,
foi proposta por três parlamentares do PCdoB. Sua elaboração e sua base social,
no entanto, está ligada a um movimento mais amplo, que inclui também pessoal
ligado às gestões de Juca Ferreira no ministério da Cultura e a outros grupos
da área cultural, como a organização Fora do Eixo. A experiência pública desse
grupo foi fundamentalmente o programa Cultura Viva (e no campo do cineclubismo,
o Cine Mais Cultura). Sua perspectiva era a do governo central, ancorada no
Sistema Nacional de Cultura - SNC. De fato, ainda que este último definisse as
três esferas como responsáveis pela política nacional de cultura, sua
experiência concreta foi sobretudo baseada na centralidade do governo federal
de então e na força dos partidos políticos e dos grupos já mencionados que o
apoiavam com sua militância nos patamares estaduais e municipais com a
organização das Conferências de Cultura nos três níveis institucionais. Uma
quarta Conferência Nacional (desde 2005 foram três) está prevista para
dezembro, mas agora organizada exclusivamente com essa base, no âmbito do
Congresso, e participação de alguns políticos e organizações de estados e
municípios.
É indiscutível que esse conjunto
de partidos e grupos foi o maior responsável pela proposição das três leis. Mas
é também muito provável que possam reproduzir os vícios presentes na sua
experiência anterior no governo. Para os cineclubes especificamente, como
vimos, isso não foi bom. A força política desse grupo é inegável e, segundo o
raciocínio já exposto, na ausência de outras visões e propostas, poderá possivelmente
ser a base da política cultural de um provável governo Lula de reconstrução do
País. Por outro lado, obrigada pelas circunstâncias a, de fato, passar a gestão
dessa política para as esferas estaduais e municipais, este novo formato provoca
um novo nível de permeabilidade e de inclusão democrática, de capilaridade e de
diversidade, de suscetibilidade às demandas e pressões das comunidades locais.
Nesse sentido, a PNAB reintroduz, sob novas perspectivas, um certo sentido
original do SNC, apontando para o empoderamento – pela responsabilização
política e financeira sobre os recursos – de municípios e estados,
reconstruindo (e ampliando) a pirâmide do Sistema de baixo para cima, e não de
cima para baixo como foi de fato.
Riscos inerentes e oportunidades possíveis
Os problemas
Da mesma forma que a capilarização
dos recursos da PNAB concorre para sua maior abertura a demandas das diferentes
comunidades, também a coloca, em boa medida, sob o poder discricionário de
autoridades locais e sujeita, eventualmente, à troca de favores e vantagens. Esse
embate entre comunidade organizada e poder institucional é passível de
ser muito mais equilibrado no plano dos municípios, até mesmo dos maiores, e
das instituições estaduais. Num certo sentido, essa disputa estimula a
sociedade civil a se organizar. Ou, por outro lado, propicia o
favorecimento e corrupção de agentes envolvidos em sua aplicação. Essa espécie
de dilema político será o fator mais decisivo na orientação da aplicação desses
recursos e do seu comprometimento, ou não, com as necessidades e interesses das
comunidades. O grande, o maior risco, então, é a incapacidade da comunidade, do
público do cineclube de se organizar e, corolário disso, não lutar pelos seus
interesses e direitos. Isso já aconteceu quando dos programas Cultura Viva e
Cine Mais Cultura, questão que está diretamente ligada à desorganização do
cineclubismo brasileiro como movimento social e cultural expressivo.
Há outros riscos, no entanto, que
vêm já de uma certa tradição de burocratização da cultura que foi
paulatinamente se introduzindo desde a Constituição de 1988. Burocratas, rábulas,
empresários e outros interesses degradaram vários aspectos dos exercícios da
cultura – que são justamente os objetos dessas políticas públicas –
complicando, dificultando e muitas vezes diretamente prejudicando a realização
de suas finalidades. Criou-se uma certa doxa jurídica, um senso comum legal sem
efetiva base ético-jurídica (mas com forte influência ideológica liberal) que
há já algum tempo passou a integrar os textos legais nesse campo. A lei Paulo
Gustavo e a PNAB não constituem exceções. Os cineclubes não são os únicos, mas
têm sido bastante prejudicados.
Primeiro risco - Os cineclubes, em suas origens sociais proletárias
e, institucionalmente, pelas deliberações de suas entidades representativas
nacionais e mundial, definem-se como organizações do público. Isso quer
dizer que são instituições políticas de base comunitária (mesmo que a sua
comunidade não seja territorial, mas de classe, etnia, gênero ou outra). Seu
instrumento de atuação é o audiovisual, mas sua organização é comunitária. Esta
questão não é “teórica”, ou formal, mas fundamental e bem prática. Assim,
quando a lei Paulo Gustavo, por exemplo (há vários outros) enquadra o cineclube
como parte do setor audiovisual e lhe empresta certas atribuições,
intrinsecamente lhe retira outras, excluindo-o de outros benefícios da mesma
lei. No caso, os cineclubes devem dividir recursos relativamente menores (224,7
milhões, item III do art. 6º) com várias atividades de exibição (e a algumas
caberia o mesmo raciocínio), estando, dessa forma, excluídos do valor bem maior
de 1,65 bilhão, que cobre uma infinidade de atividades – muitas das quais
praticadas por cineclubes –, mas que são definidas como não audiovisuais. A
questão, no entanto, pode ser negociada – no sentido estritamente político da
palavra – quando sujeita à, enfim, luta de classes nos planos municipal e
estadual.
Como já dissemos, cineclubes não
são entidades cinematográficas ou audiovisuais, mas organizações do público
nesse campo. O contrário é um pouco como dizer que sindicatos são entidades da
indústria ou do comércio, e não dos trabalhadores, ou que os movimentos
camponeses são parte de um grande agronegócio...
Segundo risco – Há uma forte contaminação ideológica na compreensão
e no trato com organizações culturais de base comunitária. Dagnino[xiii]
já identificava o fenômeno de apropriação e ressignificação de vários conceitos,
sob um prisma liberal, nos governos FHC (seu texto é de 2004), mas isso
continuou sem interrupção, de fato de forma crescente, nos governos seguintes,
espalhando-se por outras esferas. A autora fala de sociedade civil, cidadania,
participação, esvaziados de seu conteúdo democrático e progressista, mas
podíamos lembrar também de empreendedorismo, a ação empresarial
individual, termo que passou a ser empregado como sinônimo geral de iniciativa.
Da mesma forma, empresas (comerciais, privadas, lucrativas) passaram não apenas
a ocupar papéis de iniciativas comunitárias, coletivas, democráticas, sem fins
lucrativos, mas até mesmo a receber exclusividade em alguns desses papéis e
espaços, expulsando a atividade cultural típica. Um exemplo claro são os
programas de estímulo à criação, reforma ou equipamento de espaços de exibição
audiovisual (salas de cinema em sentido amplo), restritos a empreendedores
individuais ou empresas e até mesmo grandes circuitos comercias de exibição, e
vedados a cineclubes. Isso está consignado, em termos gerais, no art.10º da
PNAB.
Terceiro risco – No mesmo sentido, criou-se um hábito e um cânone da
gratuidade. Dessa forma, atividades culturais não poderiam gerar recursos
(apesar do paradoxo evidente da ideia de economia criativa, de que já falamos),
mas apenas recebê-los do Estado ou da “iniciativa privada (empreendedorismo?)”,
geralmente através da renúncia fiscal do mesmo Estado. Já falamos muito, em
outros textos, sobre isso: essencialmente, a questão da finalidade lucrativa se
refere não à produção de resultados econômicos, mas à forma de apropriação
destes. Uma empresa comercial (que não deveria receber recursos públicos exceto
em certas situações muito precisas) é aquela em que um indivíduo ou um grupo de
sócios recebem os resultados econômicos e os aplicam a seu exclusivo critério,
inclusive e frequentemente para seu benefício exclusivamente pessoal. Em uma
entidade sem fins lucrativos, os resultados têm que ser aplicados em seus
objetivos, definidos estatutária ou regimentalmente, sem que nenhum associado
possa individualmente dispor ou se beneficiar com eles. Excluir ou dificultar a
possibilidade de que organizações comunitárias possam gerar recursos as
prejudica enormemente, frequentemente as inviabilizando. É o grande paradoxo do
programa Cultura Viva: previa investimentos de três anos, uma massagem indutora
de autonomia, que só poderia resultar em fortalecimento e perenização se as
entidades passassem a produzir a sua independência econômica. Outro exemplo: quando
este autor propôs o texto do que viria a ser a Instrução Normativa 63 da Ancine[xiv]
sobre cineclubes, a redação ficou meses em discussão pelos advogados do
ministério, que queriam que constasse a obrigação de gratuidade das atividades,
ou então que seu valor fosse definido pelo texto legal. No final, redigiram uma
Instrução pífia, optativa (uma determinação legal optativa!). Claro, ela praticamente
nunca foi aplicada.
Quarto risco – Individualização da atividade cultural. A própria
ditadura militar (a original, não o pastiche de hoje) não havia mexido nas
bases tradicionais que se referiam às atividades culturais de base comunitária
e não comerciais. Tomando os cineclubes, por exemplo. A iniciativa devia ser
coletiva. Um representante, dito “legal”, mas na verdade político, pois devia
ser eleito, levava ao cartório local os estatutos deliberados por uma maioria
qualificada de associados e os registrava. Isso dava existência legal à entidade
e a qualificava para qualquer programa público. Como entidade sem fins
lucrativos, como parece óbvio, o cineclube era imune a qualquer tributo, exceto
os referentes a direitos trabalhistas, caso houvesse. Se uma entidade morresse
sem patrimônio nem dívidas – como aconteceu no final dos anos 60 com o Conselho
Nacional de Cineclubes (CNC) – uma nova assembleia legitimamente organizada e
uma nova direção eleita democraticamente (as atas assinadas eram os votos
auditáveis de então) puderam reorganizar a entidade legalmente, alguns anos
depois (em 1973). Como a constituição dos cineclubes e outras entidades, bem
como a deliberação de seus programas, são atos políticos, apenas alguns poucos
itens eram obrigatórios no registro: endereço, pessoas e/ou entidades
participantes e eleitas, formas de procedimento adotadas internamente, medidas
em caso de extinção e outros poucos detalhes. Em 2004, ao tentar proceder da
mesma forma numa outra situação de reorganização do CNC, após uma assembleia e
eleição legítimas, foi exigido o pagamento de taxas para cada ano em que a
entidade esteve inativa (foram 15 anos) – o que era proibitivo. Impostos sobre
a inatividade, taxas sobre a inexistência! Fora os emolumentos para o registro
propriamente. Também era agora necessário contratar um advogado para apresentar
as atas – que já haviam sido produzidas na assembleia – e prever um contador
para o registro da contabilidade da entidade. A entidade nacional dos
cineclubes brasileiros teve, então, de alterar sua denominação, de larga
tradição histórica, para iludir as tais taxas de 15 anos; as outras exigências
foram resolvidas com a colaboração de amigos. Poucos anos depois, no entanto, o
CNC já não conseguia atender a essa burocracia toda e caiu numa forma de
ilegalidade.
Essas taxas, emolumentos e
impostos, rábulas e guarda-livros tornaram muito difícil o registro e
documentação das organizações comunitárias. Como os governos responderam a
isso? Voltando aos controles sociais tradicionais, existentes, muito mais
simples e baratos? Facilitando de alguma maneira a burocracia? Não, o Estado
passou a legitimar a informalidade, tornando a pessoa física, o
indivíduo, como responsável autodeclarado que representa a comunidade.
Foi um golpe mortal na organização social no plano das comunidades. Todo um
arsenal de medidas e programas de políticas públicas - editais, chamadas
públicas, prêmios, entre outros – passaram a dirigir-se ao, e mesmo a
privilegiar o proponente individual: um especialista (ou seu
contratante) no preenchimento de formulários e organização de orçamentos que, gradual,
mas rapidamente, foi substituindo a iniciativa coletiva, democrática,
participativa, comunitária.
Isso está bem
claro nas duas leis de que falamos aqui, onde espaço cultural finalmente
substituiu a ideia de organização do povo, do público, da comunidade. E
uma sucessão de cadastros teve de ser criada – ou virão ainda a ser –
para incluir todos esses casos:
Cadastros
Estaduais de Cultura, Cadastros Municipais de Cultura, Cadastro Distrital de
Cultura, Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, Cadastros Estaduais
de Pontos e Pontões de Cultura, Sistema Nacional de Informações e Indicadores
Culturais (Sniic) e Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro
(Sicab) e outros cadastros referentes a
atividades culturais existentes na unidade da Federação, bem como projetos
culturais apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, nos
24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação desta
Lei (art. 9º da PAB).
A mesma lei já prevê, para facilitar, que “§ 2º:
Serão adotadas as medidas cabíveis, por cada ente federativo, para garantir, preferencialmente
de modo não presencial, inclusões e alterações nos cadastros, de
forma auto declaratória e documental, que comprovem funcionamento
regular”. Tudo começou com burocracia, mas resolve-se com uma representação
“preferencialmente não presencial” e “autodeclaratória” do que deveria ser a
comunidade. É um campo aberto, talvez fértil, para a prática da corrupção, em
nível municipal principalmente.
Por último, é preciso mencionar o
absurdo que é a cobrança de impostos sobre projetos incentivados com recursos
públicos e onde não existe a figura do lucro. A atividade cultural sem fins
lucrativos sempre foi imune do ponto de vista tributário. O Cineclube Bixiga, o
Oscarito ou o Elétrico Cineclube, por exemplo, entidades sem fins lucrativos
regularmente constituídas (anos 80 e 90), tinham públicos de milhares de
pessoas por mês; esse público pagava uma taxa de manutenção (para
distinguir da entrada ou ingresso comercial) e os cineclubes nunca pagaram
impostos (ou recolheram “direitos autorais” ao ECAD, diga-se de passagem),
exceto os direitos trabalhistas de uma parte de suas equipes que era remunerada.
Esses são alguns dos problemas que
ainda estão presentes na legislação e que constituem apenas uma parte das
questões e das reivindicações que as organizações culturais comunitárias
– não abstratos, impessoais espaços culturais – precisarão enfrentar. Mas
as oportunidades que se oferecem com essas novas leis, especialmente com a PAB,
e com a diversificação das iniciativas e diálogos políticos nas esferas
estaduais e municipais são inéditas e promissoras.
As oportunidades
O Art. 5º da PNAB define o objeto
da nova política em 18 itens. A análise desses itens aponta para a grande
oportunidade de se construir uma ampla sociedade civil de base cultural
comunitária, de forma sistemática e permanente. Vamos elencar as
possibilidades, que são interligadas, cumulativas:
Primeira possibilidade – O fato de ser uma política e não um programa,
estabelece que sua aplicação será anual, de duração indeterminada. Ela indica,
assim, a possibilidade de construção paulatina, crescente, sistemática, e
portanto planejada, de um projeto cultural da comunidade.
Segunda possibilidade – Os itens X (construção, formação, organização,
manutenção e ampliação de museus, bibliotecas, centros culturais, cinematecas,
teatros, territórios arqueológicos e de paisagem cultural, além de outros
equipamentos culturais e obras artísticas em espaço público) e XII (aquisição
de imóveis tombados com a estrita finalidade de instalação de equipamentos
culturais de acesso público) incluem na legislação um aspecto inédito e
absolutamente necessário, na verdade indispensável para a consolidação de uma
instituição popular e comunitária forte e ativa: a possibilidade de ter uma
sede. Junto com o item XI, ao qual voltaremos, também abre a perspectiva de
planejar e organizar o
alcance e o desenvolvimento das atividades que a entidade deve realizar.
No caso dos cineclubes, uma sede
pode envolver algumas salas de tamanho variado para exibição de conteúdos
audiovisuais, mas também espaços para a produção técnica e para a difusão de
conteúdos (para exibição nos locais próprios ou nos espaços virtuais) e para o
arquivamento de materiais que preservem a memória e identidade da comunidade.
Além disso, como todos sabem, há que se prever a existência de um espaço de
consumo e comemoração coletivos, com comidas e bebidas, além de algum espaço
expositivo.
Terceira possibilidade – O primeiro item do artigo é evidente: fomento,
produção e difusão de obras de caráter artístico e cultural. De certa
forma, descreve o que hoje se entende, de forma mais ou menos restrita, como
atribuição dos cineclubes, incluindo a produção. Há, contudo, um contrassenso
(um dos vícios a que já nos referimos): o item prevê o pagamento de direitos
autorais, o que não existe quando a atividade não tem fins lucrativos.
Quarta possibilidade – O item II, de forma bem abrangente – inclui gastos
com transporte e até seguro (outro item assegura a possibilidade de pagamento
de estadias também) – estimula os cineclubes a praticar uma atividade de certa
forma complementar, mas historicamente ligada às atividades culturais
comunitárias, incluindo os cineclubes: realização de projetos, tais como
exposições, festivais, festas populares, feiras e espetáculos. O item ainda
inclui a realização dessas iniciativas no País e no exterior. Estas
atividades têm um papel fundamental também na identificação do cineclube com
sua comunidade e seu enraizamento nela. Além disso, são igualmente muito úteis
na promoção da sustentabilidade econômica da entidade (seja através de ingressos
ou da renda de comidas e bebidas, entre outras possibilidades)
Quinta possibilidade – O item IX - aquisição, preservação, organização,
digitalização e outras formas de difusão de acervos, arquivos e coleções,
complementado com os itens XI e XIV, fortalecem a perspectiva do trabalho de
arquivo, preservação e disponibilização de materiais que devem integrar um
plano plurianual de organização e manutenção de uma instituição audiovisual
da comunidade, isto é, de um cineclube dos tempos atuais.
Sexta possibilidade – O item XI, já mencionado, é de extrema importância
no sentido dessa atualização do conceito, do projeto e das propostas de
um cineclube integrado ao nosso tempo – e à comunidade, como à maioria da
população: elaboração de planos anuais e plurianuais de instituições e
grupos culturais, incluindo a digitalização de acervos, arquivos e coleções,
bem como a produção de conteúdos digitais, jogos eletrônicos, vídeo-arte, e o
fomento à cultura digital. Este item reúne e resume três pontos
fundamentais: planificação a médio e longo prazo, conquistada junto às
administrações municipais e/ou estaduais; a organização de arquivos e a
produção e desenvolvimento de conteúdos audiovisuais, dentre os quais os jogos
eletrônicos são muito oportunamente lembrados.
Sétima possibilidade – Os itens IV, V, VI, VII e XVII estimulam e criam a
oportunidade de desenvolvimento de um plano mais duradouro e de projetos
diversificados de formação, educação e pesquisa, aspectos que, na perspectiva
de organização de um cineclube com muito fôlego, representatividade e
enraizamento na comunidade, são essenciais.
Oitava possibilidade – Outro aspecto inédito desta PNAB está implícito no
item XV - realização de intercâmbio cultural, nacional ou internacional.
Ele abre a possibilidade de realização de encontros diversos, de trabalho, de natureza
educativa ou até política, indispensáveis para a organização de uma efetiva
rede de cineclubes e de entidades representativas nos níveis regional,
estadual, nacional e internacional. Difícil salientar suficientemente a
importância desse item, considerando a realidade de um movimento cineclubista
que não consegue se encontrar, realizar reuniões em qualquer nível, e
sobretudo, em qualquer prazo[xv].
Os outros itens são positivos
também, mas não trazem grandes inovações ou especial interesse para os cineclubes.
O item XVIII, no entanto, que é o último, resume muito bem as possibilidades
abertas pela nova PAB: apoio a projetos culturais não previstos nos incisos
I a XVII e considerados relevantes em sua dimensão cultural e predominante
interesse público, conforme critérios de avaliação estabelecidos pelos estados,
municípios e o Distrito Federal. Em outras palavras: tudo o que for
cultural e importante – definição que será obtida pela negociação com as
autoridades estaduais e municipais – pode ser proposto e realizado.
Conclusão
Com muitos defeitos (mais
evidentes, mas não exclusivamente, na Lei Paulo Gustavo), sobretudo uma
concepção difusa do papel do Estado como organizador e orientador das
atividades culturais – e não um simples apoiador e impulsionador -, e uma recorrente
presença de elementos do mercado, que privilegiam as empresas, o
empreendedorismo e outros valores ditos neoliberais (isto é, que promovem a
organização capitalista da sociedade), as novas leis do Congresso – especialmente
a PNAB – são muito positivas para a ação cultural no plano comunitário, fundamentalmente
– mas não apenas - por passarem aos estados e municípios as responsabilidades e
iniciativas no diálogo com a população.
Isso pode superar, em boa medida,
uma série de vícios que intervieram nas políticas de democratização da cultura
encetadas principalmente pelos governos do ex-presidente Lula (2002-2010). São
os mesmos problemas que ainda aparecem um tanto mais marginalmente nas
propostas atuais, mas que se tornam possivelmente superáveis quando o diálogo
se transfere para partes mais isonômicas, isto é, onde as iniciativas populares
podem ter mais peso, mais especialmente nos municípios.
No Brasil, as organizações e movimentos
populares mais importantes também têm muitos preconceitos de fundo ideológico liberal
ou burguês com relação à cultura, o maior deles sendo a pouca importância
atribuída, em suas práticas e prioridades, a esse importante setor das lutas
sociais, a cultura e, nela, aos cineclubes. A fraqueza das organizações
culturais, e até mesmo sua presença diminuta em praticamente todos os ambientes
populares, decorre em parte dessa negligência das vanguardas organizadas e,
mais que tudo, claro, do poder, assim como do atraso, das classes dominantes
constituídas no privilégio, na exclusão, na violência e no desprezo pela grande
maioria da população. Por tudo isso, o campo cultural popular é, ou se
encontra, em termos de organização – não pela falta de riqueza de seus conteúdos
– bastante enfraquecido. Daí mais uma vez a importância e oportunidade das leis
que “descem” a pirâmide institucional e se aproximam mais das bases onde se
produz a cultura popular, dos trabalhadores, da comunidade: nos municípios – e
nos estados em menor medida.
Os professores (e as escolas) são
a maior rede de intelectuais – no sentido gramsciano[xvi]
– de interessados e capacitados para a formação e emancipação das grandes
maiorias do povo brasileiro. Muitos desses educadores percebem a importância e
a urgência, e procuram organizar iniciativas, em que as tecnologias, linguagens
e mídias audiovisuais sejam transformadas em instrumentos dessa grande tarefa
educativa. E também muitos dentre esses buscam nas práticas cineclubistas as
bases para esse trabalho. A PNAB abre oportunidades para que esse trabalho
supere as propostas de certa forma corporativas de “cineclube na sala de aula”,
apontando para a perspectiva e propiciando a oportunidade de estabelecer
ligações concretas entre as escolas e suas comunidades, de levar o vigor da
juventude à criação de cineclubes comunitários, abertos à participação de todos
– alunos, professores, funcionários, e suas respectivas famílias. Construindo verdadeiras
pontes sociais e culturais entre os dois universos que buscam formas de
diálogo: escola e comunidade.
Os cineclubes, talvez de maneira
ainda mais exemplar que outros setores virtualmente comunitários, têm uma
história recente de fragilidade organizativa e de ausência política organizada
e atuante no plano institucional. Durante os governos mais abertos (de Lula),
os cineclubes não adiantaram realmente propostas, limitando-se a seguir
acriticamente e a deixar-se cooptar de forma muito pacífica pelas iniciativas
federais: os cineclubes e suas entidades representativas nunca questionaram ou
discutiram sequer uma vírgula dos programas de distribuição de kits básicos de
projeção e de DVDs em cuja curadoria não tinham participação. Assim, o risco de
que essa ausência de iniciativa política possa se repetir é uma possibilidade
real. E sem pressão, fruto da organização e de projetos político-culturais das
comunidades, o protagonismo na construção de novas iniciativas culturais não se
dará.
No entanto, essa análise mais
pessimista se baseia apenas em fatos que já têm mais de uma década. E a nova
legislação não se dirige às iniciativas daquele tempo. Além de permitir os
passos essenciais para que práticas cineclubistas parciais passem a um
plano superior de organização – particularmente com a constituição
de espaços próprios e do planejamento plurianual construídos sob a forma de
associações democráticas – ela também poderá ser uma fonte de recursos que
auxilie a ampliação e diversificação das atividades dos cineclubes.
Esses elementos são essenciais para a integração, a organicidade dos cineclubes
em suas comunidades. Essenciais para que práticas cineclubistas, de certa
forma, evoluam e se tornem efetivamente cineclubes: associações democráticas (clubes)
em que as mídias audiovisuais (cine) são o instrumento principal de
mediação com a comunidade e de preservação e expressão de sua identidade (de
classe, de gênero, de etnia, etc.).
Essa responsabilidade – de evoluir
em organização, identificar-se, ser capaz de representar a comunidade – recai
sobre os cineclubes reais existentes hoje e, mais que tudo, sobre as pessoas,
grupos e organizações que, nas diferentes comunidades, percebem a importância
das mídias na evolução do projeto de construção de um poder popular. Novos
grupos, de origens mais diversificadas, podem e devem considerar a hipótese e
possibilidade de criarem cineclubes. Novos cineclubes, de um novo tipo. Mas um
“novo” que incorpora e supera, dialeticamente, a tradição mais que centenária
do cineclubismo.
Vamos às lutas!
[i] Como a expressão indica,
cultura comunitária é a produzida do plano das comunidades. Estas vão das
comunidades de base territorial, como bairros ou cidades menores, às
constituídas por identidades tradicionais, históricas, culturais, étnicas, de
gênero, de crenças, entre outras. Como a cultura tem origem na relação dos
seres humanos com seu entorno, modificando-o pelo trabalho, a cultura
comunitária é, em grande medida, a base da cultura popular, da cultura da
grande maioria, praticamente o único terreno social em que até mesmo os ditos
excluídos têm seu papel e participação. Embora principalmente as mídias
audiovisuais tenham penetrado bastante nesses ambientes, a cultura popular e
comunitária têm uma larga tradição oral – até mesmo pelo menor acesso aos meios
de produção simbólicos mais complexos e dispendiosos. As mídias audiovisuais,
hoje mais do que nunca antes, permitem a preservação e reprodução mais fieis e
amplas da cultura oral. Esse campo popular também não é, geralmente, incluído
na organização comercial da cultura - exceto por apropriação, que lhe retira
grande parte do sentido e caráter – e, portanto, não se organiza sob formas
produtoras de lucro. Embora seja a base mais rica da cultura, o segmento
comunitário é marginalizado, empobrecido e mesmo combatido.
[ii] Emprego o termo plateia para
designar a audiência de qualquer atividade cultural que não tem papel ativo na
sua recepção; e público como o conjunto dos participantes em eventos culturais
que, ao contrário da primeira, têm protagonismo neles, responsabilidade
consciente sobre eles. Público, na verdade, é o único termo que ressoa de
alguma forma com esse conteúdo de participação e consciência crítica, em oposição
ao sentido ideológico hegemônico; todas as outras expressões indicam uma forma
de recepção acrítica, inerme, sem responsabilidade ou iniciativa: plateia,
audiência, assistência, auditório, espectadores...
[iii] Unicórnio é o jargão para
empresas novas que conseguem chegar à marca de 1 bilhão (de dólares, suponho)
captados de investidores privados. Com o sucesso, seu futuro mais provável é
serem adquiridas pelos grandes monopólios planetários de comunicação e
entretenimento.
[iv] Uma rápida consulta ao Sistema
de Informações e Indicadores Culturais 2009-2020 (SIIC) do IBGE, disponível
na internet, mostra que 85% do consumo de bens culturais está nos produtos e
serviços tipicamente industrializados e comerciais (assinaturas de TV e
Internet, 60,8%; despesas com serviços culturais, 11,9% e artigo de residência,
11,3%). Mas isso não quer dizer que os outros 15% sejam menos comerciais: a
qualificação das “empresas” desses setores indica que 14,6% dessas empresas
estão listadas como Patrimônio Natural e Cultural (parques? museus?
Bibliotecas?); Apresentações Artísticas e Celebrações são 8,1% (Shows
Sertanejos? Desfiles de Carnaval? Festas de São João?), e Artes Visuais e
Artesanato, 6,3% - possivelmente o setor mais próximo da produção individual ou
comunitária). Há vários outros indicadores no mesmo sentido no SIIC.
[v] O programa Cine Mais Cultura
– título escolhido pela agência de propaganda que atendia ao Ministério – foi
criado bem depois dos Pontos de Cultura, mas bebia na mesma fonte. Ao invés de
pontos, o programa criou cines, nome esdrúxulo que, ao mesmo tempo que
parecia consolidar o programa, também evitava a palavra cineclube. Em 2004,
quando o movimento cineclubista se reorganizou institucionalmente, recriando o
Conselho Nacional de Cineclubes (CNC) e elegendo sua primeira diretoria, o
dirigente do programa Cultura Viva exigiu que a diretoria do CNC acolhesse o
partido político ao qual ele pertencia. A assembleia geral, porém, não aceitou
essa imposição. O Ministério, então, excluiu os cineclubes do Programa Cultura
Viva. O governo federal só voltou a dialogar com o movimento cineclubista – bem
a contragosto – em 2008. Depois de, naquele mesmo ano, tentar criar uma
estrutura paralela ao CNC, chamada de Circuito em Construção, em um verdadeiro
congresso nacional criado e pago pelos dirigentes do incipiente Cine Mais
Cultura, mas que não teve sucesso. O novo programa adaptou, então, propostas do
movimento cineclubista – como a de uma distribuidora de filmes (que virou a
Programadora Brasil) e um programa de equipamento e formação de cineclubes,
também reduzido à distribuição de kits baratos de projeção. O investimento nos cines
era de cerca de 5% do alocado aos Pontos de Cultura mas, mesmo assim, todo
mundo queria (de graça até injeção no olho, como se diz) e outros níveis de
governo, como os estados, passaram a distribuir os kits para prefeitos,
apaniguados e outros. Esse programa teve um efeito desestabilizador tremendo
para os cineclubes, que praticamente deixaram de existir como associações
comunitárias organizadas democraticamente e passaram a ser apenas pontos de
exibição para os filmes produzidos pelos diversos programas do Ministério
de apoio ao curta-metragem.
[vi] A última assembleia e eleição
legítimas – isto é, de acordo com as normas dos estatutos – do CNC foram feitas
durante a 28ª. Jornada Nacional de Cineclubes, em 2010, na cidade de Moreno,
PE. Algumas outras Jornadas, irregulares, foram realizadas depois disso – em
2013, 2015 e 2019 – sem qualquer critério ou controle de participação e com
números insignificantes de presentes. Nelas foram eleitas diferentes diretorias,
com pouca ou nenhuma atividade. Atualmente – desde 2019 – há um Conselho
Nacional de Cineclubes Brasileiros, eleito irregularmente, como nos outros
casos, mas talvez com uma disposição maior de representar os cineclubes. Não
tem representação ou legitimidade nacionais, sem dúvida, nem apresenta qualquer
realização concreta (exceto um saite na internet, de resto bem informativo), mas
representa ao menos um grupo de iniciativas cineclubistas (não confundir com
cineclubes efetivamente organizados). Como tal, e na ausência de qualquer outra
iniciativa, tem um lugar na trajetória do cineclubismo brasileiro.
[vii] Trato desse tema em meu
artigo As igrejas, as esquerdas e os cineclubes (pertencimento e hegemonia
nas instituições populares do Brasil), disponível em https://felipemacedocineclubes.blogspot.com/2020/03/as-igrejas-as-esquerdas-e-os-cineclubes.html
[viii]
Address of the Central Committee to the Communist League, disponível em https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/1850-ad1.htm
[ix] A íntegra das leis pode ser
encontrada facilmente na internet.
[x] Nos anos imediatamente
anteriores ao desgoverno atual, os recursos aplicados pelo Estado na produção
de cinema eram de pouco menos de 1 bilhão de reais anuais, numa aproximação
superficial. Assim, esses quase 3 bilhões equivalem mais ou menos, e
coincidentemente, aos recursos perdidos durante a (falta de) gestão atual.
[xi] Essa questão é mais complexa
do que isso. Apenas recordando: o governo Sarney começou a legislação que o
PSDB completaria: a lei Rouanet, que expressa bem a política de cultura desses
grupos, de privatização ação cultural do Estado. O Governo Dilma Roussef, ainda
que formado com os mesmos partidos das gestões de Lula, foi uma nulidade no
campo cultural. E Collor, Temer e Bolsonaro ilustram, em diferente momentos, um
processo de degradação intelectual e moral baseado na desarticulação de instituições
e programas.
[xii] O Sistema, entretanto,
continua sendo lei e se aplica, de forma bem mais desarticulada, em variável
medida, nos estados e municípios.
[xiii] DAGNINO, Evelina. 2004.
“Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando?”, em MATO,
Daniel (coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de
globalización. Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela, pp.
95-110. Acessível em http://biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/faces-ucv/20120723055520/Dagnino.pdf
[xiv] Acessível em https://antigo.ancine.gov.br/pt-br/legislacao/instrucoes-normativas-consolidadas/instru-o-normativa-n-63-de-2-de-outubro-de-2007
[xv] Desde o final da primeira
década deste século os cineclubes não conseguem se reunir, com poucas exceções,
em âmbitos local, regional ou nacional. Pretensas “jornadas nacionais de
cineclubes” foram realizadas em 2013, 2015 e 2019, com no máximo três dezenas
de iniciativas presentes (quando o País tem, no mínimo, algumas centenas
delas). Para contornar essa situação, o atual sucedâneo da entidade nacional
dos cineclubes, o CNC, decidiu estabelecer em seus estatutos que as assembleias
(e eleições) da entidade se darão a cada 4 anos!
[xvi] Para Antonio Gramsci,
intelectual não é a pessoa estudada, culta, mas aquela que tem a função
social de intelectual, de liderança em seu meio. São os professores,
engenheiros, padres, pastores, babalorixás, militantes de diferentes tipos,
cineclubistas e muitos outros, que exercem uma função de informação, orientação,
formação em seus ambientes sociais. Cada classe social tem seus próprios
intelectuais, que ajudam a desenvolver a consciência do papel de cada um na
sociedade, num sentido ou em outro. Os intelectuais das classes populares
lutarão pelos interesses e ajudarão a organizar essa parte da população. Mas
há, igualmente, os intelectuais da burguesia, do agronegócio, etc.

